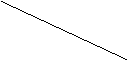DA ORALIDADE
PARA A ESCRITA:
uso e colocação dos pronomes átoNos na Fronteira Gaúcha
Paulino Vandresen (UCPel)
1 Introdução
1.1 Nas investigações sobre variação e mudança
lingüística no Português Brasileiro (PB) uma das áreas que tem despertado
grande interesse é o sistema pronominal e seus reflexos na flexão verbal e
preenchimento das posições argumentais de sujeito e objeto.
Na maioria das regiões brasileiras os pronomes de 2a
pessoa foram substituídos por
“você/vocês” e, mesmo onde pronome “tu” sobrevive pode ocorrer com flexão do verbo em 3a
pessoa, nos registros informais. Com a gramaticalização de “a gente” (concorrendo com “nós/nos”) a flexão verbal pode ficar extremamente reduzida na
fala de muitas pessoas, criando problemas no ensino do sistema pronominal da
língua escrita, especialmente para alunos oriundos de famílias de baixa renda e
pouca escolaridade.
Este empobrecimento flexional estaria, segundo Duarte
(1982) levando o PB a um estágio de mudança em direção a um sistema não
“pro-drop” com um maior preenchimento das posições de sujeito com pronomes do
caso reto.
1.2 Por outro
lado, as investigações sociolingüísticas tem apontado para uma redução no uso
dos pronomes átonos, especialmente os de 3a pessoa (o(s) e a(s) e
seus alomorfes).
Pesquisas com dados de língua falada apontam para um alto
percentual de situações em que a posição de objeto não é preenchida (objeto
nulo), baixos índices no uso dos clíticos de 3a pessoa e a
ocorrência de “ele/ela(s)” como objeto direto:
ø ele clítico SN/Demonstrativo
Omena (1978) 76% 24% 0% ¾
Duarte (1986) 62,6% 15,4% 4,9% 17,1
Monteiro (1994) 76% 3% 11% ¾
Os outros clíticos “me, te, se” e “nos” tem uso mais
abrangente, dependendo do tipo de texto, podendo ser usados como objeto direto
e indireto. O clítico “vos” tem seu uso
restrito ao contexto religioso e oratório.
1.3 Quanto à
colocação dos pronomes átonos as pesquisas tem demonstrado que na fala do PB há
uma preferência quase categórica pela próclise, independente de fatores sociais
como escolaridade, faixa etária ou sexo. Assim, no trabalho de Monteiro (1994),
baseado em informantes de nível universitário (Projeto NURC ¾ Norma Urbana Regional Culta), a colocação
enclítica é de apenas 13% em 1.750 ocorrências analisadas.
1.4 O objetivo
deste trabalho é examinar o uso e a colocação dos pronomes átonos no português
da região sul, com base nos corpora de língua falada dos projetos VARSUL e
BDS-Pampa. Os resultados em relação à língua falada foram comparados com dados
de língua escrita do jornal “Diário Popular” de Pelotas e uma amostra de
redações de vestibular para verificar diferenças especialmente na colocação dos
pronomes átonos.
Um objetivo secundário desta comunicação é verificar se o
uso e colocação dos pronomes átonos na
região sul apresenta diferenças em relação a outras regiões brasileiras, tendo
em vista o contato lingüístico com línguas de imigrantes e com o espanhol nas
áreas de fronteira.
2 O uso dos pronomes na posição de objeto
2.1 Mesmo no
português escrito os pronomes me, te,
se, nos e vos podem ser usados
como objeto direto e indireto. Na fala isto também acontece. As variante
inovadora é o uso de “lhe” como objeto
direto, fazendo um paralelo no sentido inverso, com os outros clíticos
1a. Eu vi o senhor ontem!
1b.
Eu o vi ontem.
1c.
Eu lhe vi ontem. (variante
estigmatizada)
Ainda em relação ao uso desses pronomes como objeto
indireto tanto nos dados de língua falada quanto nos de língua escrita não
ocorreu nenhum caso de contração do tipo: 2.
“Ele lho/mo entregou” que soam como arcaicos e artificiais aos falantes
brasileiros que preferem a forma: 3. “Ele
o entregou a você/a mim”.
2.2 Em relação
aos clíticos, a característica mais marcante do falante do PB é o preenchimento
da posição de objeto direto de 3a pessoa. Há três alternativas que
podem ser ilustradas nas respostas à pergunta: 4. Você viu o Pedro? 4a. Hoje
não! Eu o vi ontem, na universidade. 4b. Hoje não! Eu vi ele ontem, na universidade. 4c. Hoje
não! Eu vi ø ontem, na universidade.
Como já assinalamos o que mais chama a atenção é o
elevado percentual de objetos nulos em todos os trabalhos sobre o PB falado. No
entanto, existem algumas dificuldades em definir o objeto nulo e quantificar
sua ocorrência em relação às outras variantes concorrentes ¾ pronome lexical (ele/ela(s)) ou clítico de 3a
pessoa. Nas investigações sobre este tópico, com dados do projeto VARSUL,
Fagundes (1996) discute as dificuldades para classificar a variante zero face
às situações de elipse, uso de verbos com sentido intransitivo ou inexistência
de antecedente.
Assim, em 5 não temos antecedente e o verbo
“entregar” pragmaticamente tem valor
intransitivo de ação usual:
5. Deu nove e quinze, o carteiro sai para
entregar ø. Daí não pode passar. Então como ele tem aquele roteiro, então ele
começa a entregar ø em ruas diferentes... (14, FLP M.B.G.).
Em 6, o verbo ler, embora
possa ser interpretado como ação usual, tem antecedente claro:
6. Eu pego as revistas
atuais, que sempre tem revistas atuais e leio ø, (44, POA F.B.U.).
Já em 7 e 8 temos antecedente e o ø poderia ser substituído por clítico ou pronome lexical:
7. O fundo da
piscina, deu defeito e tiveram que esvaziar ø, (8, POA M.B.U.)
8. Agora tenho que
usar roupas sociais,; eu mando fazer ø, no alfaiate (17, CTB M.B.C.).
Mesmo levando em conta a existência de antecedente e a
ocorrência de clítico ou pronome lexical , a análise feita por Fagundes dos dados das três capitais
constatou uma ocorrência de 60% da
variante zero, 38% do pronome lexical
(ele/ela) e, apenas, 2% de uso dos clíticos de
terceira pessoa.
O fator lingüístico mais relevante na escolha das
variantes aqui analisadas foi o traço [± animado] do referente. O
traço [- animado] parece favorecer a escolha da variante zero ø, ao passo que
com o referente [ + animado] é percentualmente mais freqüente o pronome
lexical, conforme mostra a tabela no 2:
Tabela 1 ¾ Ocorrência de Pronome Lexical (PL), Zero
(ø) e clítico como objeto direto em função do traço [ ± animado] do referente (Varsul ¾ Fagundes).
Fator [ ± animado] |
PL |
ø |
Clítico |
Total |
|
- animado |
58 |
410 |
7 |
475 |
|
% |
12 |
86 |
1 |
|
|
Peso Relativo |
.14 |
.58 |
.27 |
|
|
+ animado |
318 |
171 |
14 |
503 |
|
% |
63 |
34 |
3 |
|
|
Peso Relativo |
.56 |
.14 |
.29 |
|
|
Total |
376 |
581 |
21 |
957 |
2.3 O uso de “ele/ela” como objeto direto é atestado no português do século XIV.
Silveira Bueno (1955) cita os seguintes exemplos encontrados em Fernão Lopes,
em que o clítico “o” ocorrem em
variação com “elle”, ambos como objeto direto:
9. “El-rei, sabendo
isto, houve mui grande pezar, e deitou-o
logo fora de sua mercê e degradou elle
e os filhos a dez léguas de onde que elle fosse”.
10. Traziam quatro honrados senhores um panno
d’ouro tendido em haste, que cobria elle
e o cavalo.
O uso de ele/ela como objeto, foi banido pela norma
literária clássica nos séculos seguintes tanto em Portugal quanto no Brasil. É provável que esse banimento não tenha
atingido imediatamente a fala popular. Assim, é possível conjecturar que o uso
de “ele/ela” como objeto direto tenha
sido trazida ao Brasil pelos portugueses nos primeiros séculos de colonização,
passando a fazer parte da sintaxe do PB. Esta parece ser também a hipótese de
Silveira Bueno:
“Proíbe-se no português clássico e moderno, que se empreguem as formas retas dos pronomes pessoais em função complementar, como objeto direto, mormente não preposicionado. Tal proibição que é dogma da gramática e do ensino oficial tanto em Portugal como no Brasil, encontra numerosas exceções no português arcaico e, em nossa pátria, é de todo transgredida na língua familiar e viva da sociedade. De tal modo está entranhado tal uso em nossos hábitos lingüísticos que, embora formados por escolas até superiores, exercendo carreiras liberais onde o exercício intelectual e contínuo, ainda assim, empregamos as formas retas objetivamente. No Brasil, pelo menos, somente o esforço da escola e o policiamento contínuo da gramática conseguem diminuir os casos desse emprego, mormente quando se trata de documento escrito. Parece-nos, portanto, que seja emprego radicalmente português, que esteja no cunho mesmo do idioma, espontaneidade que a força inegável da instrução tem dominado com dificuldade”.
O uso de “ele/ela” no PB escrito atual aparece na
reprodução de diálogos, mas já começa a aparecer e ser assumido em determinados
contextos como podemos ver nas passagens selecionadas por Bagno (2004,
p.105-106):
11. Se sei quase tudo de Macabéa é que já peguei uma vez
de relance o olhar de uma nordestina amarelada. Esse relance me deu ela
de corpo inteiro. (Clarisse Lispector – A hora da estrela).
12. Uma vez ela tinha arrastado ele para a praia. (Veríssimo, 2000).
13. Fleury aposta na popularidade do Senador eleito Romeu
Tuma... Quer ele como vice em sua chapa... (FSP 15/01;1995).
O ensino gramatical do português obviamente condena este
uso fazendo com que seja raro no texto escrito e na fala formal. Na fala
informal seu uso é superior aos dos clíticos em todos os corpora até agora
analisados.
3 A colocação dos clíticos na região sul e na Fronteira Gaúcha
3.1 A ordem ou
colocação dos pronomes átonos (clíticos) é um dos problemas mais discutidos
pelos gramáticos da língua portuguesa. A partir de 1909 temos a primeira
polêmica sobre divergências na colocação dos clíticos entre o Português Europeu
(PE) e o Português Brasileiro (PB). Cândido de Figueiredo, notável gramático
português em seu livro O Problema da
Colocação de Pronomes ataca os pontos de vista defendidos por Paulino de
Brito, publicados em jornais brasileiros e pela editora Aillava de Paris em
1907, discordando das normas portuguesas na colocação dos pronomes átonos. Além
de criticar seu antagonista, Figueiredo adverte que também poetas e escritores
brasileiros cometem “inaceitáveis erros” deslocando indevidamente os pronomes.
O gramático atribui as construções sintáticas “defeituosas, inauditas e
incompreensíveis” à influência africana
(Vieira, 2002, p.20).
Já na segunda parte de seu livro, Figueiredo apresenta a
doutrina dos elementos condicionadores que determinam as diferentes posições
dos clíticos, “levando em conta exemplos de bons escritores portugueses e
brasileiros. Esta doutrina dos “atratores”
tem até hoje grande receptividade nas gramáticas normativas.
Do lado brasileiro temos nesta época o trabalho do
Professor Manoel Said Ali, intitulado Dificuldades
da Língua Portuguesa, publicado pela primeira vez em 1908. Chama a atenção
para os aspectos prosódicos que interferem na colocação dos pronomes e afirma
que “impossível será haver entre nós identidade de colocação se não é idêntica
a pronúncia” (Ali, 1966, p.56). Para
Said Ali as diferenças prosódicas explicam e justificam diferentes padrões na
colocação dos clíticos entre o PE e o PB.
A partir da Semana da Arte Moderna de fevereiro de 1922,
a defesa das teses modernistas incluía a maneira brasileira de ordenar os
clíticos:
Dê-me um cigarro
diz
a gramática
do
Professor e do aluno
e
do mulato sabido.
Mas,
o bom negro e o bom branco
da
nação brasileira
dizem
todos os dias
“me
dá um cigarro”!
Oswaldo
de Andrade. Pronominais, 1954.
Apesar das colocações de Paulino de Brito, Said Ali e das
práticas de autores modernistas, as gramáticas normativas brasileiras Rocha
Lima (1971), Cunha (1971), Bechara (1999), Cegalla (1977) e várias outras
repetem critérios muito próximos daqueles propostos por Cândido Figueiredo , em
1909.
3.2 As discussões
dos gramáticos, obviamente, se referem ao português escrito e ao português
falado em contextos formais. Examinando os dados de língua falada não
monitorada é que, segundo Labov, estaremos descrevendo a gramática do vernáculo
em que a heterogeneidade está indicada pela ocorrência de variantes, no caso em
estudo, a colocação dos pronomes átonos antes ou depois do verbo. Esta
descrição permitirá também provar as dificuldades e estabelecer as estratégias
para o ensino da colocação dos pronomes na língua escrita.
O português falado na área da fronteira com o Uruguai,
representado pelos dados das cidades de Chuí, Jaguarão e Pelotas (um total de
72 informantes, em entrevistas de aproximadamente uma hora) apresentou os
seguintes resultados em relação a ocorrência de pronomes , apresentada na
tabela 4:
Tabela 2 ¾ Ocorrência de pronomes tônicos nos dados de Chuí, Jaguarão e Pelotas (BDS-Pampa)
|
Clíticos |
Número de ocorrências |
Pronomes tônicos |
Número de ocorrências |
|
Me Te Se Nos Lhe(s) o/a(s) |
1.981 566 878 103 51 2 |
pra mim (pra) ti (pra) você(s) pra nós (pra) gente (pra)ele(s)/ela(s) |
154 23 4 10 25 150 |
|
TOTAL |
3.581 |
|
366 |
O que chama a atenção nestes dados é a baixíssima
ocorrência dos pronomes átonos de 3a pessoa. A grande ocorrência de
“me” é explicada pela entrevista em que o informante é convidado a contar
narrativas da vida pessoal. As cidades pesquisadas usam o “tu” como pronome de tratamento, explicando-se
dessa forma o alto índice de ocorrência de “te”. O levantamento de objeto nulo
e a ocorrência de “ele/ela” como objeto
ainda não foi realizado, nestes dados.
Na análise da ocorrência da próclise ou ênclise, fizemos
uma separação entre contextos com verbo simples (3.226 ocorrências) e em
locução verbal (355 ocorrências).
A freqüência da próclise/ênclise por pronome átono e
apresentada na tabela 5:
Tabela 3 ¾ Freqüência da próclise em valores absolutos e em percentuais com verbo simples ¾ Chuí, Jaguarão e Pelotas.
|
Próclise |
Ênclise |
||
N |
% |
N |
% |
|
MeTe Se Nos Lhe L(o)/a(s) |
1779/1806 497/501 776/788 88/88 37/41 1/2 |
98,50 99,20 98,47 100 90,25 50 |
27/1806 4/501 12/788 0/88 4/41 1/2 |
1,49 0,79 1,52 0 9,75 50 |
TOTAL |
3178/3226 |
|
48/3226 |
1,48 |
Os dados mostram que, com exceção de “o/a”, a próclise é
quase categórica. Os clíticos de 3a pessoa e “lhe” são os que apresentaram o percentual mais elevado de
ênclise com verbos simples.
A maioria das ocorrências de “me”em posição enclítica foi
na expressão “ir embora”: “Vou, fui, vim, ia mimbora”, com o clítico
vinculado foneticamente ao advérbio. O clítico “se” também ocorreu nesta
expressão, na forma: “vamo simbora’. As demais ocorrências de “se” foram em contextos de indeterminação do
sujeito.
A colocação dos clíticos não foi influenciada pelos
fatores sociais de escolaridade, sexo, faixa etária ou cidade. Apenas para
ilustrar, as diferenças percentuais por cidade são mínimas, conforme podemos
constatar na tabela 6:
Tabela 4 ¾ Posição dos clíticos e percentuais com verbos simples.
|
Próclise |
Ênclise |
||
Ocorrências/possibilidades |
Percentual |
Ocorrências/ possibilidades |
Percentual |
|
Chuí |
929/943 |
98,51 |
14/943 |
1,48 |
Jaguarão |
876/886 |
98,75 |
11/886 |
1,24 |
Pelotas |
1374/1397 |
98,35 |
23/1397 |
1,64 |
Total |
3178/3226 |
98,51 |
48/3226 |
1,48 |
A posição dos clíticos na locução verbal seguiu
basicamente a regra de próclise ao verbo principal, como se pode verificar na
tabela 5:
Tabela 5 ¾ Posição dos clíticos na locução verbal.
|
CIDADES |
Próclise ao auxiliar: clítico + auxiliar + verbo |
Próclise ao Verbo:Auxiliar + Clítico + Verbo |
Ênclise ao Verbo: Auxiliar + Verbo + Clítico |
|||
Ocorrências/possibilidades |
% |
Ocorrências/ possibilidades |
% |
Ocorrências/ possibilidades |
% |
|
|
Chuí |
7/79 |
8,86 |
72,79 |
91,14 |
0,79 |
0 |
|
Jaguarão |
4/158 |
2,53 |
154/158 |
97,47 |
0/151 |
0 |
|
Pelotas |
3/118 |
2,54 |
114/118 |
96,61 |
1/118 |
0,84 |
|
Total |
14/355 |
3,94 |
340/355 |
95,77 |
1/355 |
0,23 |
Na “próclise ao auxiliar” a maioria das ocorrências
apresentavam uma palavra atratora como em “Não me vai jogar isto na cara.
(Chuí) ... disse que nos iam matar etc. mas há exemplos sem esta motivação...
“me estava jogando no lixo (Chuí).
Comparando estes dados da Fronteira Gaúcha com outros
estudos podemos verificar algumas diferenças, mas confirmando a tendência geral
do PB pela próclise. Os dados da tabela 6 mostram os dados de Blumenau (SC), de
colonização germânica, em que a geração mais velha aprendeu o português na
escola:
Tabela 6 ¾ Próclise e Ênclise em Blumenau (VARSUL).
|
Pronomes |
Próclise |
Ênclise |
||
N |
% |
N |
% |
|
Me |
303/304 |
99,67 |
1/304 |
0,32 |
Te |
56/56 |
100 |
0,56 |
0 |
Se |
387/446 |
86,77 |
59/446 |
13,22 |
Nos |
4/4 |
100 |
0,4 |
0 |
Lhe |
0,6 |
0 |
6/6 |
100 |
L(o)/a(s) |
0,4 |
0 |
4/4 |
100 |
TOTAL |
750/820 |
91,46 |
70/820 |
8,53 |
Os clíticos de 3a pessoa, embora também
escassos, foram usados, sempre em posição enclítica. O mesmo aconteceu com
“lhe”. O “se” também tem um percentual elevado
pelo uso em expressões de indeterminação do sujeito.
Já a análise de Monteiro (1994) com informantes
universitários apresenta um percentual maior de ênclises (13%) mas mostra que
no PB, mesmo falantes de alta escolaridade preferem a colocação proclítica,
como podemos ver na tabela 7.
Tabela 7 ¾ Freqüência da próclise e
ênclise, em valores absolutos e percentuais (Monteiro 1994, p.196) – PROJETO
NURC
|
Pronomes |
Próclise |
Ênclise |
||
Freqüência |
% |
Freqüência |
% |
|
Me |
512 |
99 |
7 |
1 |
Te |
12 |
100 |
0 |
0 |
Se |
1076 |
85 |
190 |
15 |
Nos |
41 |
87 |
6 |
13 |
Lhe |
80 |
93 |
6 |
7 |
L(o)/a(s) |
29 |
40 |
44 |
60 |
TOTAL |
1750/2003 |
87 |
253/2003 |
13 |
Estes dados demonstram que a gramática do PB em sua forma
oral prefere, por razões prosódicas, como já afirmava Said Ali, a colocação
proclítica ao verbo principal.
4 Uso e colocação dos pronomes átonos na língua escrita
Para fazer um confronto entre a sintaxe de colocação dos
clíticos na fala e na escrita coletamos dados do jornal de Pelotas “Diário
Popular” e de uma amostra de 100
redações do vestibular. Do “Diário Popular” selecionamos dados do
“Editorial” (mais formal) e da coluna
“Espeto corrido” (de caráter mais
popular).
Na tabela no8 constatamos um aumento
significativo no percentual de ênclises, que chega a 37,84%, contra 1,48% nos
dados da fala aqui analisados:
Tabela 8 ¾ Colocação dos clíticos nos dados de língua escrita: Diário Popular e Redações de vestibular.
Texto |
Próclise |
% |
Ênclise |
% |
Total |
|
DP – Editorial |
318 |
62,6 |
190 |
37,4 |
508 |
|
DP – Espeto corrido |
140 |
60 |
93 |
40 |
233 |
|
Redações de vestibular |
145 |
63,3 |
84 |
36,7 |
229 |
|
TOTAL |
603 |
|
367 |
|
970 |
Observando os dados do jornal verifica-se a observância
das regras constantes das gramáticas brasileiras, como, costuma acontecer nos
melhores jornais e na literatura técnico-científica produzida no Brasil. Já nas
redações ocorreram ênclises em contextos em que a gramática recomendaria
próclises, além de outras impropriedades que demonstram o caminho difícil que
muitos alunos enfrentam para dominar a colocação dos pronomes átonos na
escrita.
A ocorrência de próclise/ênclise para cada pronome átomo
está na tabela 9:
Tabela 9 ¾ Pronomes átomos na língua escrita: Diário Popular e vestibular
|
Pronomes |
Próclise |
% |
Ênclise |
% |
|
Me |
4/6 |
66,6 |
2/6 |
33,3% |
|
Te |
4/4 |
100 |
0 |
0 |
|
Se |
550/886 |
62 |
336/886 |
38 |
|
Nos |
25/30 |
83,3 |
5/30 |
16,6 |
|
Lhe |
15/22 |
68,1 |
7/22 |
31,9 |
|
o/a(s) |
5/22 |
22,13 |
17/22 |
77,27 |
|
TOTAL |
603/970 |
62,16 |
367/970 |
37,84 |
Face à tipologia dos textos, houve uma grande ocorrência
do pronome “se” que acumula as funções de reflexivo, indeterminação do sujeito
e passiva sintética. Junto com os clíticos de 3a pessoa, apresenta o
maior índice de ocorrência na posição pós-verbal.
5 Algumas conclusões
5.1 Nos dados de
língua falada os clíticos de 3a pessoa o/a e seus alomorfes
apresentaram a menor freqüência nos corpora da região sul – Projeto Varsul e
BDS-Pampa. O preenchimento da posição de objeto conta com duas outras
estratégias: a) o pronome lexical ele/ela, cuja escolha é favorecida quando o
referente é [+ animado] e b) o objeto nulo, com maior probabilidade de
ocorrência quando o referente é [ - animado].
Com pronomes de 1a e 2a pessoas, a
ocorrência de objeto nulo apresenta menor probabilidade.
5.2 A próclise ao
verbo principal é quase categórica na fala da região sul. Os clíticos de 3a
pessoa “o/a”, “lhe” e “se” são os que
apresentam maior percentual de ocorrência na posição pós-verbal.
5.3 Na língua
escrita houve um aumento significativo nas ocorrências de ênclise,
verificando-se a influência das regras gramaticais (367/970 ou 37,8%).
Mas, “me dá um cigarro” ainda não faz parte da gramática
do professor.
Referências bibliográficas
ALI, Manuel Said. Dificuldades
da língua portuguesa. 3.ed. Rio de
Janeiro: Acadêmica, 1966.
BECHARA, Evanildo.
Moderna gramática portuguesa. 37.ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna,
1999.
BRITO, Paulino de. Colocação
dos pronomes. Paris: Aillaud, 1907.
CÂMARA JÚNIOR, J. Mattoso. Para o estudo da fonêmica
portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Padrão, 1977.
CASTILHO, Ataliba de; BASÍLIO, Margarida (Orgs.). Gramática do português falado. Vol. IV.
Estudos descritivos. Campinas: Educamp/FAPESP, 1996.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da
língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1977.
CUNHA, Celso. Gramática
do português contemporâneo. Belo Horizonte: Bernardo Álvares, 1971.
DUARTE, Eugênia Lamoglia. Variação e sintaxe: clítico
acusativo, pronome lexical e categoria vazia no português do Brasil.
Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 1986.
_______.
Clítico acusativo, pronome lexical e categoria vazia no português do
Brasil. In: TARALLO, F. (Org.). Fotografias
sociolingüísticas. Campinas: Pontes/Unicamp, 1989.
FIGUEIREDO, Cândido de. O problema da colocação de pronomes. Lisboa: Livraria Clássica,
1944.
MONTEIRO, José Lemos. Pronomes pessoais. Fortaleza: Editora da Universidade Federal do
Ceará, 1994.
OMENA, Nelize Pires de. Pronome pessoal de terceira pessoa: suas formas variantes em função
acusativa. Rio: PUC-RJ, Dissertação de Mestrado, 1978.
PERINI, Mário Alberto. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 2003.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da
língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.
SILVEIRA BUENO, Francisco de. A
formação histórica da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Civ. Acadêmica,
1955.
VIEIRA, Silva Rodrigues. Colocação pronominal nas
variedades Européia, Brasileira e Moçambicana: para a definição da natureza do
clítico em português. Rio de
Janeiro: UFRJ, Tese de doutorado inédita, 2002.