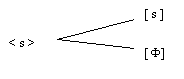
Variantes |
Um conceito fundamental é o que concerne à VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA. Primeiro vamos defini-la em seu sentido amplo e depois tecer alguns comentários sobre sua classificação. Segundo Dubois, (1983, p.609), Chama-se VARIAÇÃO o fenômeno no qual, na prática corrente, uma língua determinada não é jamais, numa época, num lugar e num grupo social dados, idêntica ao que ela é noutra época, em outro lugar e em outro grupo social (grifo nosso). Já VARIANTE LINGÜÍSTICA corresponde às várias maneiras de se dizer a mesma coisa, em um mesmo contexto, com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de VARIANTES dá-se o nome de VARIÁVEL LINGÜÍSTICA.
A
disciplina que vai embasar nosso estudo é a sociolingüística, (área da ciência
da linguagem) que
procura, basicamente, verificar de que modo fatores de natureza lingüística e
extralingüística estão correlacionados ao uso de variantes nos diferentes níveis
da gramática de uma língua – a fonética, a morfologia e a sintaxe – e
também no seu léxico. (BELINE,
2002, p.125)
No
exemplo abaixo, segundo Tarallo (1986, p.8-9), para assinalar a variável, usa
parênteses angulares < >, os quais, segundo a convenção do modelo,
indicam a variação do item lingüístico analisado. Para as variantes utiliza
colchetes. Vamos seguir a mesma representação em todo o texto:
|
|
|||
|
|||
Variável
O
plural no português é marcado redundantemente ao longo do SN[1]:
no determinante, no nome-núcleo e nos modificadores-adjetivos. A variação na
marcação do plural
1.
aS meninaS bonitaS no SN pode, portanto, tomar as seguintes formas:
2.
aS meninas bonitaF
3.
aS meninaF
bonita
Normalmente as pessoas pensam na VARIAÇÃO lingüística GEOGRÁFICA (ou DIATÓPICA), isto é, na regional. A maneira de falar característica de cada região brasileira com seus respectivos dialetos ou falares regionais (linguagem urbana e linguagem rural, por exemplo).
A variação geográfica, no caso do professor alfabetizador
(...)
ter como aluno crianças, jovens ou adultos de outro estado ou região, o
alfabetizador deve apresentar familiarização com
a variação lingüística destes, não só quanto ao léxico, mas,
principalmente, quanto, à fonologia, para que possa conscientizar os demais da
classe de que as diferenças regionais ou dialetais existem, devem ser
respeitadas, significam riqueza lingüística e que seria muito enfadonho se
todos os brasileiros, por exemplo, usassem o mesmo vocabulário e se
expressassem com a mesma pronúncia e entonação. Deve contribuir para mais rápida
adaptação desse aluno ao novo ambiente.
(QUEIROZ, 1992, p. 167).
Na seqüência do texto, no item variação lexical, os 120 exemplos distribuídos em 03 das nossas regiões (Nordeste, Sudeste e Sul) servirão de exemplificação para Variação Geográfica ou Diatópica.
Podemos falar também em variação histórica (ou diacrônica), social (ou diastrática) e estilística (ou diafásica), como classifica Camacho (1978).
VARIAÇÃO HISTÓRICA (ou DIACRÔNICA):
Por
não existir regra ortográfica para todas as situações, temos que nos valer
de outros subsídios da língua para tentarmos auxiliar melhor os educandos,
entender melhor certos usos da fala, que são riquíssimos, em relação à
escrita e usos populares (não padrão) em relação ao culto (padrão). Para
isto, podemos apelar para a Diacronia que poderá esclarecer alguns empregos que
parecem individuais e absurdos, mas que não o são e possuem um princípio de
verdade e de regularidade, mesmo que inconscientemente, principalmente, quando
se trata de pessoa não alfabetizada ou em princípio de alfabetização da zona
rural ou periferia urbana.
(QUEIROZ, 1992, p. 173).
Diacronia, estudo da evolução, das transformações estruturais de uma língua, ao longo do tempo, por diferentes povos, na Variação Diacrônica,
refere-se
à existência de pelo menos dois estados sucessivos de uma língua. Quer dizer,
uma palavra passa a ser utilizada pelos seus falantes em detrimento de outra.
Uma variante que não era padrão pode passar a ser em lugar de outra já
estabelecida, tudo pelo uso. Uma cai em desuso e a outra permanece ou ambas
podem conviver, no mesmo plano temporal, sendo que a em desuso passa a ser
perpetuada por um grupo menor de falantes, geralmente de idade mais avançada.
(QUEIROZ, 1997, p.103).
Ex.: assibilare > assibiar > assobiar > assoviar (as palavras assobiar e assoviar são duas variantes que convivem no mesmo plano temporal)
Apresentaremos, a seguir, alguns usos em que o falante, mesmo sem conhecer os processos de Metaplasmos (alterações que as palavras sofrem na evolução do Latim para o português) e a nomenclatura correspondente, utiliza tais processos, conforme podemos constatar no texto de Queiroz (1992, p.176-182):
(...)
Prótese ou Prostese (acréscimo de um fonema no início de um vocábulo) (...):
arrecear (recear), arrenegar (renegar) ou
mesmo na aglutinação (incorporação do artigo no início do vocábulo):
alagoa (lagoa), segundo o esquema histórico/evolutivo de palavras como stare
> estar.
(...)
Epêntese (acréscimo de um fonema no meio, no interior do vocábulo)(...)
beneficiência (beneficência), prazeirosamente (prazerosamente), iguinorante
(ignorante), (...) ou o caso de Suarabacti ou Anaptixe (intercalação de uma
vogal para desfazer um grupo consonantal) como em hipinotismo (hipnotismo),
peneu, pineu (pneu), opitar, (optar), obter (obter), febrariu > februariu
> fevrairo > fevereiro.
(...)
podemos entender a tendência cada vez mais acentuada da supressão inicial de
fonema nos vocábulos através de Aférese como em tá (está), tô (estou), péra
(espera), Zé (José), cê (você), inda (ainda), té (até), vô (avô), vó
(avó), mô (amor – Aférese e Apócope). Quer dizer, independente de conhecer
ou não tal processo como em enamorare > namorar, os falantes vão pondo em
prática o processo de economia das palavras.
(...)
Síncope (supressão
de um fonema medial) e Apócope (queda
do fonema final) em uma mesma palavra como
seu (senhor). Ainda Síncope em palavra como poblema (problema), tamém (também),
falano (falando), qué (quer), sabê (saber), passá (passar) pô (pôr).
Existe
uma modalidade de Síncope que é a Haplologia (supressão ou queda da primeira
de duas sílabas sucessivas iniciadas pela mesma consoante – Coutinho fala em
sílaba medial idêntica ou quase idêntica – que explica a maneira, também
considerada correta, de escrever a palavra entretimento (entretenimento). Mas
rejeita-se esta forma dupla em palavras como: paralepípedo (paralelepípedo),
infabilidade (infalibilidade).
(...)
na Metátese (transposição de um fonema na mesma sílaba) pro > por, por
exemplo, esclarece a forma popular do “pro” em proque (porque), devido ter
sido “pro” e não “por” primeiramente. Podemos reforçar este uso com as
formas preto (perto), preguntá (perguntar), braganha (barganha), braguilha (barguilha),
as duas são aceitas, partileira (pratileira), etc.
(...)
Hipértese (um fonema de uma sílaba para outra), identificamos a tendência de
deslocamento do fonema “i” que se faz em óido (ódio), quer dizer,
intuitivamente, o falante utiliza-se de um processo de deslocamento de fonema de
maneira que, para ele, facilite a sua fala. Podemos reforçar tal situação com
os seguintes exemplos: metereologia (meteorologia), areoporto (aeroporto),
largatixa (lagartixa).
Gostaríamos
de registrar, ainda a nasalização tão corrente, em alguma regiões, das
palavras (cozinha) cunzinha, governo (gunverno).
(...)
Dissimilação (diferenciação de um fonema por já existir igual ou semelhante
na palavra) em situações como: pírula (pílula), estrambólico (estrambótico),
breganha (barganha). A Dissimilação, às vezes, chega à supressão de fonemas
(Dissimilação Eliminadora) como em rostru > rosto, dibre (dribre, deturpação
de drible).
(...)
Degeneração (consoante sonora por outra sonora), (...) b > v como em
caballu > cavalo e, popularmente, (...) como brabo em vez de bravo (do latim
barbaru), briba em vez de víbora (do lat. vipera), barrer em vez de varrer (do
lat. verrere), bassora em vez de vassoura (do lat. versoria), etc.
No
caso de Palatização (um ou mais fonemas em uma palatal) temos o “cl” em
“lh”entr entre outros tipos, como podemos observar em oculu > oculo >
oclo > olho. Talvez, as pessoas por analogia à palavra olho, as pessoas, de
modo geral, não se habituam a dizer meus óculus (do lat. oculus), no máximo
“meu óculos”, “o óculos”, este óculos”, quando se referem às
lentes usadas em frente aos olhos. Normalmente dizem “meu oclo ou meus oclo ou
meus oclos”. Quer dizer, pela Diacronia, podemos entender essas várias
maneiras de escrita e fala. É pertinente registrar que, no interior do nosso
Estado, há a forma “meu ócri”. Acreditamos, ainda, que devido a palavra
“óculos” se referir a apenas um objeto, surge a dificuldade em fazer a
concordância de número do nome “óculos” (sempre no plural) como o
determinante (artigo ou pronome) que estiver acompanhando-o .
Ainda
para ilustrar, apresentamos as realizações de Palatalização através das
palavras Antonho ou Ontonho (Antonio) e demonho (demônio, isto é, n e, i) +
vog > nh: aranea > aranha, seniore > senhor.
Processo
inverso é o da Despalatização, fenômeno atual na língua, que consiste em
reduzir a concoante palatal em um fonema, neste caso específico chamado, por
alguns, de (Yeismo) em palavras como muié (mulher), coié ou cuié (colher),
oreia ou ureia (orelha), foia (folha), etc Outra maneira de Despalatização é
a ocorrida nos grupos bl, gl e tl > lh nos exemplos: tribulu > triblu >
trilho (trio), tegula > tegla > telha (teia), vetulo > vetlu > velho
> (véio), quando não é dito menino réio (velho). Também nos grupos vog.
+ pl > lh e vog. + cl > lh em scopulo > iscoplu > escolho (escoio),
oculo > oclu > olho > (oio), auricula > ouricla > orelha (oreia),
apicula > aplica > abelha (abeia), macula > macla > malha (maia).
Ainda o lY > lh em filiu > filyo > filho (fio), palea > palya >
palha > (paia), consiliu > consilyo > conselho (coseio).
O
conhecimento da Monotongação justifica a amneira informal de se falar,
transformando ditongo em vogal, como em: dou > dô, estou > tô, sou >
sÔ, vou > vÔ, feixe > fêxe, peixe > pêxe, freira > frera, doutor
> dotor, Europa > Oropa, Eugênio > Ogênio.
Apesar
da Monotongação ser mais usual, a Ditongação (passagem de um hiato ou de um
vogal em ditongo) também vai marcando a sua presença, como podemos observar em
palavras como mais (mas), rui (ru-im, ruim), ar-rui-nar
(ar-ru-i-nar, arruinar),sau-dar (sa-u-dar, saudar), Kai-tia (Ka-tia, Katia),
etc. Nocaso da palavra fruto, algumas pessoas continuam privilagiando a forma
arcaica ditongada “fruito”, “fruita” de fructu > fructo > fruito
(arc.) > fruto.
VARIAÇÃO SOCIAL (ou DIASTRÁTICA): é o resultado da tendência para maior semelhança entre os atos verbais dos membros de um mesmo setor sócio-cultural da comunidade.(CAMACHO, 1978). São aspectos de diversidade lingüística social, segundo Preti (1987), variações sócio-culturais que podem ser influenciadas por fatores ligados ao falante (ou ao grupo a que pertence): idade, sexo, raça, profissão, posição social, grau de escolaridade, classe econômica, local em que reside, ou à situação ou a ambos concomitantemente: ambiente, tema, estado emocional do falante e grau de intimidade entre os falantes, entre outros. Os dialetos sociais são classificados em culto (padrão culto da língua) ou popular, coloquial.
Por último, conforme classificação de Camacho (1978), a VARIAÇÃO ESTILÍSTICA (ou DIAFÁSICA): está ligada, diretamente, ao estilo mais ou menos formal, mais ou menos informal, de um mesmo indivíduo, adequando cada estilo ao seu interlocutor e ao contexto situacional ao qual o falante esteja inserido. Conforme esquematiza Preti (1987, p.35), os níveis de fala ou registros estão distribuídos em formal, comum e coloquial. O autor exemplifica:
FORMAL:
Situações de formalidade; Predomínio de
linguagem culta; Comportamento lingüístico mais refletido, mais tenso; Vocabulário
técnico etc.
![]()
![]() COMUM
COMUM
COLOQUIAL:
Situações familiares ou de menor formalidade; Predomínio de linguagem
popular; Comportamento lingüístico mais distenso; Gíria; Linguagem afetiva,
expressões obscenas etc.
Como exemplo prático,
com base em Queiroz e Paiva (2001, p.27-28), podemos comparar os textos abaixo
quanto à forma, seleção e posição das palavras, entre outros aspectos que
venhamos observar:
TEXTO 1
Ao
Exmo. Prefeito da Cidade do Natal
M.
D. Engenheiro José da Silva
Nós, abaixo-assinados, alunos da Escola Municipal Aderbal Nunes,
vimos, por meio deste, solicitar a V. Exa. que implemente o sistema de iluminação
na rua onde se situa nossa escola, a fim de evitar os assaltos freqüentes que
põem em risco a vida de professores, funcionários e alunos da citada escola.
Natal,
28 de janeiro de 1999.
Assinatura:
Natal,28/01/99
Painho:
Antes
de sair pro trabalho, eu queria que você desse um jeito na luz do meu quarto.
Quando é de noite eu não posso estudar e na sala os meninos fazem a maior
zoeira e a gente termina brigando.
Júnior.
O aluno pode observar: TEXTO 1:
tratamento formal: (Exmo., M. D. e Exa.); preocupação com
a seleção lexical: (solicitar, implemente, sistema de iluminação
e põem); não abrevia palavras, usa a data por extenso e segue as normas
gramaticais. TEXTO 2: tratamento
informal: (Painho e você em vez de Meu pai e senhor,
respectivamente); despreocupação com a seleção vocabular: (luz em vez
de lâmpada, a maior zoeira em vez de o maior barulho,
a gente em vez de nós, desse um jeito na em vez de
consertasse a); abrevia a palavra pro em vez de usar para o;
preposição inadequada (de noite em vez de à noite) e Quando
é de noite em vez de à noite. O professor pode trabalhar também a
passagem do estilo formal para o informal e vice-versa. Vale lembrar que os dois
textos têm eficácia comunicativa, diferentes entre si em função do
interlocutor e das exigências da situação comunicativa.
Uma
pessoa fala com diferenças às vezes notáveis quando numa conversa informal ou
em público, representando um certo status
social. Uma pessoa que lê procura uma pronúncia que nem sempre corresponde à
pronúncia de sua fala coloquial. Essa é a variação
estilística, segundo a nomenclatura dos lingüistas. Todos nós, na
verdade, somos de certa forma falantes de mais de um dialeto, os quais usamos de
acordo com as circunstâncias.(CAGLIARI,
1996,p.86).
Após essa classificação mais ampla (CAMACHO, 1978), podemos falar em variação nos limites da palavra (lexical, fonética e morfológica) e nos limites da frase (sintaxe) (BELINE, 2002), relacionando, evidentemente, as classificações dos dois autores.
Iniciando com a VARIAÇÃO LEXICAL da palavra “jerimum” (Nordeste do Brasil) e “abóbora” (Sudeste e Sul do Brasil), vemos duas palavras escritas diferentes com o mesmo significado; ou um mesmo vocábulo sendo pronunciado de forma diferente indicando, assim, ambos os casos, variação diatópica (Geográfica) e a diafásica (Estilística), conforme a situação mais ou menos formal. No primeiro caso,
(...)
ainda que o falante possa não saber o significado de um vocábulo ou de outro,
ao ouvi-lo pela primeira vez, ele não questiona o fato de que ambos são
palavras do português, pois reconhece os sons que participam de sua constituição
e também reconhece o seu padrão silábico.
(BELINE, 2002, p.122)
O
exemplo acima parece simples, porém o autor nos alerta para o fato de que “‘jerimum’
pode fazer referência a um determinado tipo de ‘abóbora’ e não
necessariamente a qualquer tipo. Nesse caso, pode-se até discutir se os vocábulos
são sinônimos perfeitos uns dos outros e, portanto, variantes de uma variável.”
(p.124).
Com base em Queiroz (1993, p. 204-209),
Serão
enumeradas, a título de exemplo, algumas distinções lexicais (...) marcantes,
sem o intuito de esgotar ou tornar minuciosa a identificação do lugar de uso
de cada realização.
Diante
de tamanha extensão geográfica, (o Brasil)
a comparação lingüística que será apresentada limitar-se-á às regiões
Nordeste, mais centrada no nosso Estado, à Sudeste no Rio de Janeiro e São
Paulo e à Sul no Paraná e Rio Grande do Sul.
Faz
necessário esclarecer que o aspecto lexical foi coletado, em sua maioria,
informalmente, na condição de falante da língua portuguesa da pesquisadora e
com a colaboração espontânea de informantes que atendiam as necessidades do
texto.
Pode-se
observar, (...) uma maior amplitude de diferenças em determinadas caracterizações
que em outras, conforme determinada localidade já os tenha consagrado.
|
Caracterização
alimento |
|
|
Nordeste |
Sudeste
/ Sul |
|
Azeitona
(preta, oliva) |
Jamelão |
|
Banana-anã |
Banana
nanica, banana d’água |
|
Bananada,
vitamina de banana |
Vitamina
de banana |
|
Banana
leite |
Banana
maçã |
|
Banana
pacovan |
Banana
prata |
|
Bisnaga
(pão) |
Bengala |
|
Bisteca |
Bife
com osso |
|
Canjica
|
Curau |
|
Capim-santo |
Capim-limão |
|
Carne
charque |
Carne
seca |
|
Castalhola |
Amendoeira |
|
Chã-de-dentro |
Coxão
mole |
|
Chã-de-fora
|
Coxão
duro |
|
Confeito |
Bala |
|
Dindim |
Sacolé
(RJ), sucolito (SP) |
|
Feijão
branco (um dos tipos) |
Feijão-de-macassar |
|
Guiné |
Galinha-d’angola |
|
Jerimum |
Abóbora |
|
Laranja
cravo |
Mexerica,
tangerina |
|
Lombo
paulista |
Lagarto |
|
Macaxeira |
Mandioca,
aipim |
|
Manguzá
ou munguzá |
Canjica |
|
Pão
francês |
Pãozinho,
média |
|
Papa,
mingau |
Mingau |
|
Picolé |
Sorvete
no palito |
|
Pinha |
Fruta
de conde |
|
Ponche |
Refresco
de fruta |
|
Raiva |
Bolinho
de goma |
|
Torrada |
Queijo
quente |
|
Verdura
(folhagem e legumes) |
Folhagem |
|
Caracterização
– lugar |
|
|
Área,
alpendre |
Varanda |
|
Escola |
Colégio |
|
Parada
(de ônibus) |
Ponto |
|
Caracterização
– pessoa |
|
|
Criança |
Moleque |
|
Espritado |
Valentão,
enfurecido |
|
Enxerido |
Oferecido,
intrometido |
|
Galego |
Russo,
alemão |
|
Mainha,
painho |
Mãezinha,
paizinho |
|
Menino |
Criança,
guri, piá |
|
Caracterização
– ação |
|
|
Amassar |
Machucar |
|
Arrodear |
Contornar |
|
Atravessar,
cruzar |
Passar |
|
Bolçar,
golfar |
Golfar |
|
Botar,
Colocar |
Pôr |
|
Contar
lorota |
Conversa
fiada, piada, gabolice |
|
Derramar |
Entornar |
|
Descer
do ônibus |
Saltar
do ônibus |
|
Dizer |
Falar |
|
Dobrar
à direita, à esquerda |
Virar
à direita, à esquerda, esterçar |
|
Encapar |
Encadernar |
|
Engomar |
Passar
a roupa |
|
Enrolar |
Enganar |
|
Ensacar
(roupa) |
Passar |
|
Estar
com um xodó |
Namoro |
|
Frear |
Brecar |
|
Jogar
pife-pafe |
Jogar
cachete |
|
Ludibriar |
Enlear
(Paraná) |
|
Mangar |
Zombar |
|
Mentir |
Atochar
(Paraná) |
|
Pastorar
|
Vigiar |
|
Rebocar |
Emboçar |
|
Ter
uma biloura |
Ter
um chilique, tontura, |
|
Zuada |
Barulho |
|
Caracterização
– objeto |
|
|
Ampuleta |
Ombreira |
|
Aparelho |
Vaso
sanitário |
|
Bico |
Renda |
|
Biloca |
Bola
de gude, búrica (Paraná) |
|
Borrão |
Rascunho |
|
Broche |
Presilha,
fivela, pregador |
|
Caçamba |
Forma
de gelo |
|
Caçamba |
Basculhante |
|
Carteira
(de motorista) |
Carta |
|
Coleção |
Caixa
de lápis de cor |
|
Corda |
Varal |
|
Coruja |
Papagaio,
pipa |
|
Cuia
(banda da cabaça) |
Cabaça |
|
Entre-fita |
Passa-fita |
|
Estola,
caminho de mesa |
Caminho
de mesa |
|
Farda
|
Uniforme |
|
Friso |
Grampo |
|
Guarda-roupa |
Armário |
|
Geladeira |
Refrigerador |
|
Janela
(vidro e ferro) |
Basculhante |
|
Jarro |
Vaso |
|
Kombi |
Perua |
|
Liga |
Borracha |
|
Lápis
comum, grafite |
Lápis |
|
Lápis
tinta |
Caneta |
|
Lapiseira |
Apontador |
|
Mangueira |
Esguincho,
borracha |
|
Maneiro |
Leve |
|
Marrafa |
Pente |
|
Ombreira |
Cabide |
|
Pia
(banheiro) |
Lavatório |
|
Quadro-negro
(verde) |
Lousa |
|
Quebrado |
Escangalhado |
|
Ruma,
tuia |
Monte,
bocado |
|
Sombrinha,
guarda-chuva |
Guarda-chuva,
chapéu |
|
Seco |
Vazio |
|
Sinal |
Farol |
|
Sinal |
Pinta |
|
Sola
(de vedar) |
Carrapeta |
|
Sujeira |
Caca |
|
Tamborete |
Banco |
|
Tipóia,
rede |
Rede |
|
Torado |
Quebrado |
|
Torneira |
Bica |
|
Caracterização
– sentimento |
|
|
Pena |
Dó |
|
Caracterização
– comportamento |
|
|
Aperreado
|
Alvoroçado,
nervoso |
|
Arengueiro |
Briguento |
|
Cobrador |
Trocador |
|
Assanhado
(despenteado) |
Saliente |
|
Danado |
Levado |
|
Desastrado |
Lambão |
|
Desmantelado |
Bagunceiro |
|
Gozado |
Engraçado |
|
Legal |
Maneiro |
|
Moleza
(estar com0 |
Boa
vida |
|
Moco |
Surdo |
|
Vexado |
Apressado |
Um
segundo exemplo é a VARIAÇÃO FONÉTICA.
(...)
vai-se observar que na língua portuguesa as alterações de um mesmo fonema ou
de fonemas distintos (...), NÃO causam mudança de significado, apenas de pronúncia.
(...) Apesar do critério ser o fonético, não se pode dissociá-lo do fonológico,
pois, (...), parte-se do fonema como unidade de análise (elemento da Fonologia),
enquanto trata-se de realizações diferentes dessa unidade na cadeia fônica
(tarefa da Fonética). (...) realizações
diferentes do mesmo fonema, no mesmo contexto, correspondem a variantes. Não há
alteração de significado, mas apenas de pronúncias distintas. Essa variação
decorre de fatores não lingüísticos e sim sociais, geográficos, culturais,
etc.
(QUEIROZ, 1993, p. 210) – atualizamos os tempos verbais dos verbos
sublinhados).
Como exemplo, temos a pronúncia do –r em final de sílaba no Português do Brasil entre paulistanos (-r como vibrante simples) e cariocas (-r aspirado, representado pelo “h”), por exemplo, em MAR:
![]() [r]
[r]
![]() Variável
< -r >
Variantes
Variável
< -r >
Variantes
[h]
Um outro exemplo, entre vários presentes no texto de Queiroz (1993), está representado pela variação da palavra “Dia”, abaixo, que em uma descrição fonética, teríamos:
![]() [
d ] [ ‘dia ]
[
d ] [ ‘dia ]
![]() Variável
< d >
Variantes
Variável
< d >
Variantes
[ d ] [‘d ia ]
Traços comuns: consoante, sonora.
Traços diferentes: [ d ] oclusiva, linguodental.
[ d ] africada, palatal.
O [ d ] pronúncia do RN, PB, PE, CE (região do Cariri, Crato, Barbalho e Juazeiro).
Beline
(2002, p.123) lembra que nessa variação
(...) é sempre provável que existam
outras variantes, além daquelas mais obviamente perceptíveis e marcadas no
lugar em que são usadas.
Aproveitando
as exemplificações de Queiroz (1992, p.182),
Como
curiosidade quanto ao ditongo, gostaríamos de registrar as alternâncias de
“ou” e “oi”, “sem que haja explicação fonética”, conforme Dolores
(1987:54): ouro e oiro, touro e toiro, louro e loiro, cousa (Portugal) e coisa
(Brasil) e segundo outros autores, deve-se à tendência da manutenção do
dotongo.
Como terceiro e último exemplo de variação nos limites da palavra, temos a VARIAÇÃO MORFOLÓGICA no caso do –r (morfema flexional) no final dos verbos na forma infinitiva (falar) e a ausência do –r (morfema zero) final na forma conjugada ou flexionada (fala) (presente do indicativo).
![]() [-r]
[-r]
![]() Variável
< -r >
Variantes
Variável
< -r >
Variantes
[F]
Um outro exemplo, no texto AI D’EU SODADE (anônimo, cantado por Xangai), na 5ª estrofe, 4º verso, temos: “comprar dois metro de chita”. A palavra “metro” está no singular, em vez de no plural para concordar com o numeral “dois”, logo, está faltando o morfema de número, o “S”.
![]() [-s]
[-s]
![]() Variável
< -s >
Variantes
Variável
< -s >
Variantes
[F]
É importante salientarmos que esse terceiro tipo de variação não é obrigatoriamente diatópica (Geográfica), pois o apagamento (situações informais) e o não apagamento (situações formais) desse morfema representam também a variação diafásica (Estilística), além da maior ou menor freqüência da pronúncia do –r da forma verbal do infinitivo pode estar (não necessariamente) ligada ao grau de escolaridade do falante (maior uso da variante, maior escolaridade e menor uso da variante, menor escolaridade), variação diastrática (Social), ou a outro fator de natureza extralingüístico ou social como, a situação de fala do falante.
Passando para a variação nos limites da frase, ainda com base em Beline (2002, p. 124), podemos apresentar a VARIAÇÃO SINTÁTICA expressando, por exemplo, mais de uma forma da negativa no português do Brasil, quer dizer, duas construções sintáticas diferentes com o mesmo sentido, logo teremos duas variantes:
(1)
Olha, eu não vou sair agora...
(advérbio de negação antes do verbo)
(2)
Olha, eu não vou sair agora não...
(advérbio de negação antes e depois do verbo)
No entanto, se argumentarmos que o sentido da negativa em (2) é diferente por ser mais enfática pela repetição do “não”, tendo um uso limitado a determinados contextos, diferentes dos do exemplo (1), não podendo ocupar os mesmos contextos por terem sentidos diferentes, mesmo que a diferença seja pouco perceptível, não teremos um caso de variação sintática.
Ainda em termos de variação sintática, no caso, com pronomes relativos, Beline (2002, p.124-125) apresenta os exemplos (3, 4 e 5) abaixo, mostrando a possibilidade de correlação com as variações fonética e morfológica sem alterar o sentido, daí então três variantes. Já quanto à variação diafásica (Estilística), não podemos fazer a mesma consideração, pois não seria adequado utilizar o exemplo (3) em um contexto informal, como também o (5) em um contexto mais formal.
3.
...essa aqui é a pessoa em cuja casa
eu fiquei quando viajei para a Europa...
4.
... essa aqui é a pessoa que eu fiquei na casa
quando viajei...
5.
...essa aqui é a pessoa que eu fiquei na casa dela
quando viajei...
O autor diz:
quando
nos perguntamos até que ponto as línguas podem variar, o que na verdade
estamos perguntado-nos é o seguinte: a língua é um fenômeno inerentemente
variável, heterogêneo por definição, ou, diferentemente, é um sistema homogêneo
que pode apresentar casos eventuais de heterogeneidade? O que é a língua,
portanto, para um lingüista variacionista? (idem,
p.126)
O
autor acrescenta: “Antes
de tomar uma posição, temos de ter claro que a escolha de uma dessas
alternativas define o tipo de investigação lingüística a ser feita, mas não
exclui a outra como possibilidade.” (Idem ibdem, 126)
Quando aceitamos a variedade de línguas no mundo, intuitivamente consideramos um conjunto de “regras” de combinação de fonemas (sons), de morfemas, de palavras e de frases no texto diferente entre as línguas como um todo, apesar de existirem semelhanças e, ao mesmo tempo, variedade dentro de cada língua e em cada falante, por influência do lugar e aspectos sociais, por exemplo. Desta maneira, estamos vendo a língua como um sistema inerentemente variável, adotando o estudo sociolingüístico ou variacionista, que tem William Labov como seu maior representante.
Beline (2002, p.128) diz que:
(...)
Embora o indivíduo possa utilizar variantes, é no contato lingüístico com
outros falantes de sua comunidade que ele vai encontrar os limites para sua
variação individual. Como o indivíduo vive inserido numa comunidade, deverá
haver semelhanças entre a língua que ele fala e a que os outros membros da
comunidade falam.
Outro aspecto importante foi o que disse Saussure, no Curso de Lingüística Geral, falando dobre língua e fala como universos distintos, embora interrelacionados. Transportando esse raciocínio para os estudos variacionistas, língua e fala estão numa relação de interdependência. Então, no Português do Brasil (PB), podemos empregar as variantes “queijo e quejo”, porém não podemos variar entre “jeito e jeto”. As variações individuais no momento da fala parecem obedecer a regras sistemáticas que caracterizam o português, quer sejam na sintaxe geral da língua, quer sejam no aspecto lexical, entre outros.
Queiroz (1997, p.103-104), relacionando variação/escola comenta que
Infelizmente,
variação lingüística, nas escolas, de modo geral, é sinônimo de norma padrão.
A não obediência ao padrão lingüístico adotado pela escola, significa que o
aluno está cometendo um desvio, um vício, um erro lingüístico, está falando
uma não-língua. Em lugar de considerar as diferentes formas de expressão como
formas que
coexistem, as variedades como diferenças
corretas, aceitáveis, conforme determinação do contexto. Nesse tipo de
escola, os professores tentam substituir
o padrão lingüístico trazido pela criança do seu núcleo familiar, do seu
grupo de amigos, do trabalho, no caso de adultos, em vez de acrescentar ao já
existente, procurando oportunizá-lo a uma ascensão social.
Segundo Cagliari (1996, p.83):
A
escola (...) deve mostrar aos alunos que a sociedade atribui valores sociais
diferentes aos diferentes modos de falar a língua e que esses valores, embora
se baseiem em preconceitos e falsas interpretações do certo e errado lingüístico,
têm conseqüências econômicas, políticas e sociais muito sérias para as
pessoas.
Concluindo os comentários sobre variação lingüística, gostaríamos de enfatizar que, em geral, a variante padrão corresponde à conservadora, à de prestígio lingüístico na sociedade e a variante não-padrão à inovadora, à estigmatizada pelos membros da sociedade.
BELINE,
Ronald. Variação lingüística. FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à
Lingüística – I. Objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2002, p.
121-140:.
CAGLIARI,
Luiz C. Alfabetização e Lingüística. 9 ed., São Paulo: Scipione,
1996, p.42-45: O que é a Lingüística. (Série Pensamento e Ação no Magistério,
3. Fundamentos).
CAMACHO,
R. G. Duas fases na aquisição de padrões lingüísticos para adolescentes.
Dissertação de Mestrado. Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 1978.
CARVALHO,
Dolores G. e NASCIMENTO, Manoel. Gramática Histórica. 15ª ed., Segundo
Grau e Vestibular. São Paulo: Ática, 1987,
(esgotada).
COUTINHO,
Ismael de L. Gramática Histórica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico,
1976.
DUBOIS,
Jean. et al. Dicionário de
Lingüística. Trad.
Frederico P. de Barros et al. Dir. e coord. ger. da trad. Izidoro Blikstein. São
Paulo: Cultrix, 1983.
PIETROFORTE,
Antonio Vicente. A língua como
objeto da Lingüística. FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à Lingüística
– I. Objetos teóricos. São Paulo: Contexto, p. 92-93, 2002.
PRETI,
Dino. Sociolingüística: os níveis da fala. 6.: ed. rev. e mod. São
Paulo: Nacional, v.6, 1987, p. 1- 41: A Sociolingüística e o fenômeno da
diversidade na língua de um grupo social. Dialetos sociais e níveis de fala ou
registros. Biblioteca universitária (Letras e lingüística, série 5).
QUEIROZ,
Liomar C. de. Posição da Lingüística diante do certo/errado na alfabetização.
Vivência, UFRN, CCHLA, Natal, v. 5, nº 2, p. 163-187, Julh/Dez, 1992.
_____
Pertinência/NãoPertinência Regionais. Vivência, UFRN, CCHLA, Natal,
v. 7, nº esp., p. 203-218, 1993.
_____
Conceitos lingüísticos fundamentais para a formação dos professores das séries
iniciais (1ª à 4ª série) do 1º Grau. In:
XIII EPEN. Natal, 17
–20 jun. de 1997. Anais... Natal:EDUFRN, v.11, p.103-104, 1997 (Coleção
EPEN).
_____
e PAIVA, Mª Aliete N. Questões para ensinar e aprender: compreensão e produção
de texto para a educação básica. RIBEIRO, Márcia Mª G. e FERREIRA, Mª
Salonilde (orgs.), Oficina pedagógica: uma estratégia de
ensino-aprendizagem. Natal: EDUFRN, p. 15-30, 2001.
TARALLO,
Fernando. A pesquisa sociolingüística. 2ª ed., São Paulo: Ática,
1986. (Série Princípios).

[1] “Em lingüística estrutural, chama-se sintagma um grupo de elementos lingüísticos que formam uma unidade numa organização hierárquica. O termo sintagma é seguido de um qualificativo que define sua categoria gramatical (sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, etc., [abreviaturas SN, SV, AS];” (DUBOIS, 1983, p.557-558)