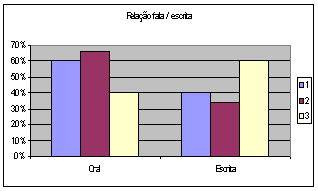
“Todas
as esferas da atividade humana por mais variadas que sejam, estão relacionadas
com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos
dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade
humana”.
Bakhtin (1997)
No
último século o mundo presenciou a queda do muro de Berlim e junto com ele o
modelo socialista. O capitalismo domina o mundo, ao contrário do que fora
pensado por Marx. O autor de O capital considerava que quanto mais uma
sociedade se desenvolve tecnologicamente, maior a possibilidade de torná-la
libertária e que à medida que as forças produtivas evoluem, com elas irrompe
um novo sistema social (apud Habermas, 1990).
Essa idéia aproxima-se daquela defendida por Crystal (2001) quando este
afirma que o mundo inteiro se renova a cada surgimento de uma nova tecnologia (apud
Marcuschi, 2002a).
Se
não chegam a ser totalmente verdadeiros os pensamentos dos dois teóricos
acerca do comportamento humano frente às novas tecnologias, eles encontram eco
na atual dinâmica organizacional. De fato, ao menos no que se refere aos atuais
modos de comunicação, os dados obtidos nesta pesquisa apontam para um mundo
empresarial cada vez mais virtual. Avaliar, pois, o impacto sofrido na produção
de determinados gêneros cristalizados na comunicação institucional em decorrência
dessa virtualização é o principal objetivo deste estudo.
Para
alcançar tal objetivo, foram tomadas como parceiras três empresas de grande
porte, situadas no estado de Pernambuco; a saber: A Dow Química, uma
multinacional, aqui representada pela subsidiária CAN (Companhia Alcoolquímica
do Nordeste); a Petroflex, uma ex-estatal há dez anos privatizada e, por último,
a ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).
A
nossa principal hipótese é que o advento de novas tecnologias voltadas para
comunicação e informação tenha possibilitado um modelo de manifestação
discursiva pautado na rapidez, objetividade e clareza, fazendo cair em desuso
modelos tradicionais de textos, tais como memorando, requerimento, atas, entre
outros.
Norteará
esse estudo a teoria do Círculo de Bakhtin sobre os gêneros discursivos que
originou conceitos inovadores acerca do uso da linguagem, sobretudo, o concepção
da natureza sócio-histórica e ideológica dos gêneros discursivos. Esses
conceitos têm sido retomados e ampliados por todos aqueles que vêem no estudo
dos gêneros uma forma de se alcançar as reais dimensões constitutivas das
manifestações lingüísticas no interior de uma esfera de atividade
determinada. Dentre esses estudiosos, farão parte das nossas considerações teóricas:
Miller (1984), Swales (1990), Marcuschi (2001), contribuirão com as discussões
aqui registradas.
Este
estudo justifica-se na medida em que traz para o centro do debate dos estudos
lingüísticos o entorno empresarial, ambiente pouco explorado no que se refere
às manifestações discursivas praticadas em seu interior.
Ao mesmo tempo, possibilita uma visão crítica acerca das atuais práticas
de ensino, debate esse que não se limita apenas aos professores responsáveis
pela formação do cidadão produtor/leitor de textos que circulam socialmente,
mas também a todos aqueles cuja responsabilidade é preparar o futuro
profissional para o mercado de trabalho: um mundo cada vez mais competitivo e
virtualizado.
O
“uso inflacionado” do termo gênero do discurso nos estudos lingüísticos
dos últimos anos, deve-se, segundo Faraco(2003) ao texto de Bakhtin O
problema dos gêneros do discurso, publicado na Rússia em 1979. Nesse
manuscrito de 1952/53, o filósofo russo discutia os caminhos para um estudo da
linguagem como atividade sociointeracional, num diálogo crítico com a tradição
dos estudos lingüísticos de sua época que se caracteriza por privilegiar o
estudo sistêmico (imanente) da linguagem verbal enquanto ignora ou simplifica a
realidade lingüística pautada na interação social, enquanto práticas
sociais de linguagem (Faraco,2003:110).
Para
Bakhtin os gêneros não deveriam ser entendidos como uma camisa de forças na
qual se retém cada forma de pensamento humano. Mais uma vez vem à tona o seu
pensamento crítico em relação às práticas científicas em que a metodologia
sobrepuja o próprio fazer científico. Talvez a concepção de gênero por ele
concebida, seja perpassada por essa filosofia. Para Bakhtin os gêneros do
discurso são tipos relativamente estáveis, representantes de valores
culturalmente instituídos, sujeitos ao tempo e ao espaço, no qual são
originados.
Marcuschi
(2002) concorda com Bakhtin ao afirmar que os gêneros não são instrumentos
estanques e enrijecedores da ação criativa. O autor caracteriza os gêneros
textuais (ou discursivos) como eventos comunicativos altamente maleáveis, dinâmicos
e plásticos, que surgem emparelhados à necessidade e atividades sócio-culturais,
bem como na relação com inovações tecnológicas.
Para
o autor, os gêneros caracterizam-se muito mais por suas funções
comunicativas, cognitivas e institucionais que por suas peculiaridades lingüísticas
e estruturais (p29). Em alguns casos são as formas que determinam o gênero, em
outros as funções, ou o próprio suporte ou ainda o ambiente que os textos
circulam. Essa noção será fortalecida pela nossa discussão mais adiante
acerca da natureza genérica do e-mail.
Também
Caroline Miller(1984) demonstra uma certa aversão ao formalismo. Para Miller o
que vai contar na determinação do gênero é a relação texto-contexto e sua
aplicação social.
A
autora afirma que a forma não está em primeiro plano e defende a recorrência
de situações na vida diária e essa relação com os gêneros. Ela defende
ainda que para a determinação de um gênero faz-se necessário adotar alguns
critérios, tais como: similaridades, status retórico e convenções sociais.
Estas últimas seriam as regras para as produções sociais. Um discurso, para
Miller, só é interpretável em contextos bem definidos.
SWALES(1990),
por sua vez, adverte que há muitos parâmetros envolvidos na determinação dos
gêneros. Cita a complexidade dos propósitos retóricos, o grau de preparo
exigido para sua produção, o meio de transmissão, a audiência pretendida.
Afirma ainda, que não há uma classificação universalmente aceita para gêneros,
já que os mesmos são históricos e culturalmente sensíveis. Sobre a gênese
de um texto prototípico, o autor garante que isso não ocorre da noite para o
dia. Os gêneros desenvolvem-se por um certo período até que sejam,
considerados prototípicos para atender a um propósito pretendido. Swales
apresenta a seguinte concepção de gênero:
“Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos cujos
membros partilham um dado conjunto de propósitos comunicativos. Esses propósitos
são conhecidos pelos experts membros da comunidade de discurso e com
isso constituem a base lógica para o gênero (...) O propósito comunicativo é
tanto um critério privilegiado e um critério que opera para atingir o escopo
de um gênero... Se todas as expectativas de probabilidades mais altas forem
realizadas, o exemplar será visto como prototípico pelos membros da comunidade
de discurso. Os nomes dos gêneros herdados e produzidos... necessitam de validação
posterior. (SWALES, 1990:58)
Elizabeth
Gülich (apud Marcuschi,2002:33) ao tratar da questão da designação de
certos gêneros sustenta que os interlocutores seguem geralmente três critérios
para designarem seus textos, são eles:
a)
Canal/meio de comunicação: (telefonema, carta, telegrama);
b)
Critérios formais: (conto, debate, ata, etc.);
c) Natureza do conteúdo: (piada, prefácio, receita, etc.).
Em
relação especificamente ao e-mail, acreditamos que os nossos informantes
consideram o primeiro critério para caracteriza-lo como um gênero.
O
aporte teórico apresentado será de suma importância tanto para o embasamento
necessário para as análises apresentadas quanto para o balizamento das
considerações finais.
Com
base nos textos coletados e os dados obtidos através dos questionários
respondidos por trinta funcionários das três empresas pesquisadas, os
resultados apontam para um ambiente muito mais democrático em que as manifestações
orais são cada vez mais estimuladas como forma de propiciar um clima de confiança
entre todos as pessoas que constituem a organização, desfazendo assim, as últimas
barreiras próprias das antigas estruturas hierárquicas.
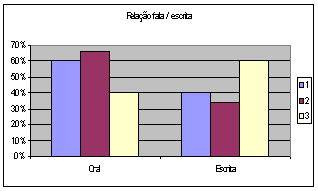
Gráfico
1
O
gráfico acima apresenta o uso das
manifestações oral e escrita nas três empresas(1= Dow, 2= Petroflex,3=ECT). O
fato de tomarmos como informantes basicamente pessoas diretamente ligadas ao
processo industrial, cujas atividades são muito mais voltadas para a oralidade, fez com que os índices de manifestação oral registrados
nas empresas 1 e 2 fossem maiores que os apresentados pela empresa 3,
caracteristicamente usuária da modalidade escrita em suas práticas diárias.
No entanto, as demais questões registram um alto índice de uso da escrita também
nas duas empresas privadas, conforme mostra o gráfico 2.
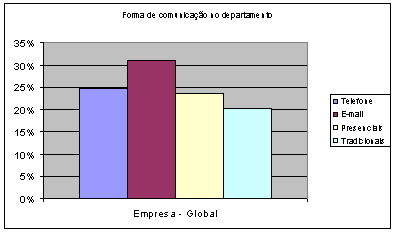 Gráfico
2
Gráfico
2
Nesse
gráfico, é possível perceber que
o e-mail é a forma de comunicação mais usada entre os departamentos das
empresas, seguido pelo uso do telefone, comunicações presenciais (reuniões,
palestras, videoconferências, net-meeting, etc) e, numa escala menor
pelas formas tradicionais de comunicação(exceto para a empresa pública,
responsável pela representatividade mostrada no gráfico das formas de comunicação:
cartas, ofícios, requerimentos, circulares, memorandos, etc).
Essa
mesma tendência é mantida em relação às comunicações entre os diferentes
departamentos, bem como nas relações com órgãos externos. Observamos que ao
relacionarem-se com entidades governamentais, as empresas privadas tendem a
respeitar as formas usadas por essas instituições, o uso do “estilo
oficial” é retomado bem como gêneros como ofício[1],
correspondências protocoladas, etc.
De
todos os gêneros pesquisados a ata foi aquele cujas características foram mais
preservados. Mesmo assim, essa fidelidade ao modelo tradicional só acontece
quando se trata de eventos envolvendo órgãos externos. Nesses casos, os termos
usados para abertura e fechamento ainda são os mesmos, assim como o registro
dos fatos e das pessoas participantes. Nos casos de usos internos os modelos
seguem os padrões das empresas. De acordo com as máximas de relevância e
economia adotadas pela dinâmica comunicacional organizacional, os assuntos e
participantes são dispostos em tabelas, a data e local ainda são informações
preservadas a fim de direcionar os participantes do evento. A leitura desse gênero
é feita em tela, sendo de competência de pessoas determinadas a sua manipulação
e arquivo.
Outros
gêneros como relatórios, avisos, bilhetes, atestados, não sofreram grandes
alterações, embora todos eles sejam disponíveis em rede, tanto
para produção/leitura, como para arquivo quando necessário e
respeitando os tempos dispostos pelo sistema de cada empresa.
Gêneros
como ofício, memorando, requerimento, circular e todos aqueles antigos modelos
de documentos tendo o papel como suporte ideal e uma estrutura hierárquica
bastante marcada, pertencem agora a um passado que nenhuma secretária ou
qualquer usuário faz questão de reviver.
Alguns
gêneros emergiram com o uso da comunicação via computador e tem sucesso
garantido desde os grandes líderes das multinacionais até o único responsável
por uma pequena empresa que vê na comunicação em rede a possibilidade de uma
administração mais eficaz e a participação no mercado aberto e competitivo
do mundo globalizado.
São
exemplos desses gêneros: e-mail, videoconferência, netmeeting, etc.
Para
entendermos como essa comunicação se processa na atividade profissional, o nível
de linguagem usado, o tom, os conteúdos veiculados, em suma os ingredientes que
fizeram desse dispositivo a forma de comunicação mais usada da era digital,
tomaremos como exemplo, o e-mail da diretora de recursos humanos da empresa 2,
no qual podemos ler:
To:
Severino Santos/CABO/PETROFLEX@PETROFLEX
Subject:
Ata reunião – Relatório CICE
Como
é Severino, como vai nosso Relatório?
O
que está faltando?
Quero
apresentar na próxima quarta-feira à Diretoria o que a CICE está fazendo (é
bom para fortalecer algumas de nossas demandas).
Caia
em campo URGENTE, ok?
Podemos
perceber no texto a cobrança por parte da emitente de uma resposta a um assunto
compartilhado entre os interlocutores. A
linguagem usada é bastante próxima da oralidade, inclusive com o uso de
marcadores conversacionais (“como é...”). O tom é leve embora ponha em
negrito a palavra urgente. A autora
do texto usa a temática da bola (“caia em campo...”) numa estratégia para
se aproximar mais de seu interlocutor. Podemos explicar dessa forma porque
durante a experiência podemos perceber que a temática da bola era recorrente
nas idéias desenvolvidas por esse funcionário
Em
outro e-mail podemos ler:
To:
Geovany Antônio/CABO/PETROFLEX@PETROFLEX
Subject:
Gráfico
Gió:
Segue
o gráfico atualizado. Desconsidere o primeiro que te mandei pq as ordens
estavam trocadas.
Bjo!
Caso
não fosse coletado no interior de uma empresa, poderíamos imaginar que esse
fosse um e-mail trocado entre dois estudantes da mesma turma. Com base nessa idéia
foi solicitado que dois adolescentes lessem apenas o texto, sem as
informações adicionais próprias do e-mail. O primeiro disse tratar-se de uma
correspondência entre duas colegas de classe, ambas adolescentes. O segundo,
assegurou ser uma correspondência entre dois
adultos e justificou a sua resposta afirmando
que adolescentes não escolheriam a expressão “segue” conforme consta no
texto, e sim: “Estou mandando prá vc...”.
A
comunicação em análise, portanto, traz as marcas da conversação espontânea,
há inclusive, o uso de apelido e abreviaturas bastante usadas em e-mails. Outra
característica deste gênero é o tamanho do texto, geralmente curto.
Por
questão de economia não apresentaremos outros textos, ressaltando apenas que o
e-mail, apesar de ser caracteristicamente um texto curto, poderá ir desde uma
expressão como ok como resposta a uma mensagem anterior, até a inclusão
no corpo do texto de informações técnicas, especificações, contratos, currículos,
cartas profissionais, todo tipo de relatório, processos judiciais. Tudo,
absolutamente tudo pode ser veiculado através do e-mail.
Os
gráficos abaixo informam acerca da produção e leitura de e-mails nas três
empresas pesquisadas.
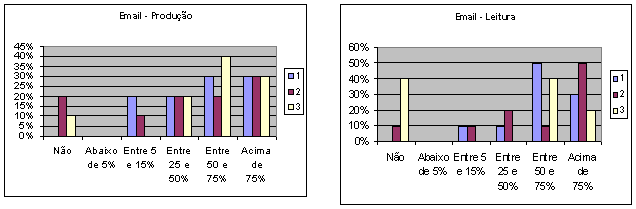
Como
é possível perceber 30% dos informantes da empresa 1, produzem esse gênero
na faixa entre 50 e 75% e 30% numa faixa superior a 75% de sua prática
diária. A leitura, por sua vez, cresce, nas mesmas faixas, para 50 e 30%
respectivamente.
Na
empresa 2, há uma dispersão desses valores, conservando, porém a mesma tendência.
Há um uso maior em freqüências menores. Assim, a produção de10% dos
informantes encaixa-se na faixa entre 5 e 15%,
20% deles produzem entre 25 e 50%, 20%: entre 50 e 75% e 30% produzem
acima de 75%. Se considerarmos que os informantes dessa empresa,
predominantemente, trabalham na operação e, dessa forma, a queda na produção
e leitura seria compreensível já que a sua atuação não requisitaria tal prática,
é possível constatar uma mudança significativa de comportamento desses
profissionais.
A
produção de e-mails na empresa 3, na faixa entre 50 e 75 % supera as marcas
das duas empresas privadas (40%) e iguala-se na faixa acima de 75%. Números que
exprimem uma situação de transição uma vez que os gêneros considerados
tradicionais têm um alto índice de produção, conforme veremos mais adiante.
A
leitura desse gênero, contudo, cai significativamente nessa empresa, enquanto
na ex-estatal ela cresce em todas as faixas, chegando a atingir o índice de 50%
dos leitores situados na faixa acima de 75%. Na multinacional, por sua vez, a
leitura é bastante heterogênea alcançando um índice maior na faixa entre 50
e 75%. Se considerarmos que 30% dos informantes lêem na faixa mais alta (acima
de 75%), e mais 20% lêem nas duas faixas inferiores, é forçoso concluir o
alto índice de leitura de e-mails nessa empresa.
O
que fica claro com a comparação dos gráficos que representam o uso dos gêneros
pesquisados (20 ao todo) e o gráfico acima é a total supremacia do uso de
e-mail nas práticas profissionais contemporâneas.
Outro aspecto a ser ressaltado é o fato d o uso do e-mail ter integralizado
outros tipos de textos tradicionalmente usados nas comunicações profissionais
como ofícios, circulares, requerimentos, etc.
Esses
gêneros, nas duas empresas privadas, perderam seus elementos constitutivos,
tais como numeração, formas de tratamento e fechamento. Mesmo assim, eles
foram apontados pelos nossos informantes com os seus respectivos nomes. As
pessoas que tiveram contacto anterior com os textos apontados reconhecem, no
propósito da comunicação esse ou aquele gênero. O que ficou claro ao serem
questionados sobre o motivo de terem designado textos cujas características não
mais garantiam o reconhecimento dos gêneros designados. As respostas
invariavelmente apontavam para o propósito da comunicação. Ou seja, se a
intenção era comunicar a todos da empresa, isso caracterizaria uma circular;
se a comunicação restringia-se a poucos: um ofício; se havia a necessidade de
solicitar formalmente algo, ou algum serviço: um requerimento.
Percebemos
que em nenhum momento foram citadas as características formais de tais textos,
o que parece contrariar a afirmação de Bhatia (1997), de que o aspecto
convencional é determinante para a padronização de gêneros textuais. Diante
disso, somos tentados a concordar com Swales (1990:58) quando afirma que “o
propósito comunicativo é tanto um critério privilegiado e um critério que
opera para atingir o escopo de um gênero...”.
Além
disso, o comportamento descrito corrobora a idéia defendida por Marcuschi
(2002b: 20) de que novos gêneros estão sempre
ancorados em modelos anteriores. Foi o reconhecimento de um elemento comum aos gêneros
anteriormente vivenciados que fez com que as pessoas os designassem como tal,
sem sequer atentarem para os demais elementos constitutivos do gênero.
Acreditamos que se assim não fosse a compreensão ficaria seriamente
comprometida. Para Bazerman (1994) sem um senso compartilhado de gênero as
pessoas poderiam não saber que tipo de coisas estaria sendo praticado.
Neste
ponto, faz-se necessária uma discussão acerca da natureza desse artefato
disponível pelo advento da tecnologia cuja produção é um eterno devir. A
questão que se impõe é: o e-mail é
um gênero ou um suporte? Esse tema tem fomentado alguns calorosos debates
no meio acadêmico e geralmente não costuma chegar a um consenso.
Sobre
essa questão, a vivência nas empresas pesquisadas nos mostra um comportamento
que ora aponta na direção de e-mail como suporte, ora somos levados a entendê-lo
como gênero.
O
módulo 4, capítulo 13 do manual de comunicação dos correios identifica,
entre os instrumentos de comunicação prescritos, o e-mail como correio
eletrônico, “ assim identificado pelo jargão da informática, oriundo da língua
inglesa”. O manual explicita suas
partes constitutivas.
O
fato é que ao mesmo tempo em que o e-mail é tratado como instrumento de
comunicação, recebendo o mesmo tratamento de cartas, ofícios e outros
instrumentos de mesma natureza, ele é designado como endereço eletrônico,
remetendo-nos a um outro tipo de dispositivo disponibilizado pelos correios: A
caixa postal, em que o cliente recebe um espaço físico destinado ao
recebimento de todo tipo de correspondência, cujo acesso só a ele é
permitido, através do uso de uma chave própria.
Analogamente
assim funciona o e-mail: endereço virtual para o qual converge todo e qualquer
tipo de comunicação. Como na caixa postal só o usuário terá acesso a esse
endereço.
Empiricamente
expressões como: “Escrevi um e-mail para você”, “Você recebeu meu
e-mail?”, “Adorei o e-mail que você me enviou...” convivem lado a lado
com outras expressões como “você tem e-mail?”, “Vou enviar isso via
e-mail para você”, “recebi por e-mail...” Os primeiros exemplos
demonstram um uso metonímico do e-mail, em que a mensagem é tomada pelo
suporte. Nesse ponto ainda nada se pode afirmar acerca da natureza genérica do
e-mail.
Se
considerarmos, contudo, o que postula Swales (op.cit.) em relação à
prototipicidade de um determinado gênero no interior de uma comunidade específica,
quando afirma que essa determinação dependerá
da aceitação e constante uso desse artefato como tal, então
seremos levados a imaginar que em breve essa questão sequer será
considerada, estará definitivamente estabelecido o gênero e-mail.
Independente
da questão acima, o uso da mediação por computador, em sua maior expressão
– e-mail, inegavelmente trouxe para as empresas um salto tecnológico
qualitativo inimaginável. Nem mesmo o telefone cuja utilização atinge uma média
de uso de 26% (conforme gráfico 2) consegue superar a utilização deste meio.
É
forçoso, pois, concordar com Crystal (2001:225) quando este afirma que o e-mail
supera a Web em números de transações individuais feitas diariamente, apesar
de ocupar uma parte relativamente
pequena do “espaço” da internet em comparação aos bilhões de páginas na
World Wide Web.
Os
resultados obtidos com o estudo da produção textual no âmbito empresarial
corroboram concepções como as defendidas por Cavalo e Chartier (1997) de que
toda revolução no campo da produção textual[2]
decorre em atendimento às necessidades dos leitores em cada momento histórico.
Mudanças estéticas nos escritos como separação do texto em palavras, em parágrafos,
o uso de letras maiúsculas além das escolhas dos suportes ideais variando do
papiro, pergaminho ao papel e, posteriormente o livro na forma que o conhecemos,
seriam exemplos dessa adequação. Assim, quando Ovídio passa a escrever para o
público feminino “futilidades e etiquetas” registra a entrada das mulheres
no mundo letrado. Dessa forma, estaríamos atualmente vivendo um momento histórico
em que o mundo do leitor mudou e isso faz com que suas exigências sejam
condizentes com seu modus vivendi.
A
perspectiva acima reforça a teoria defendida por Bakhtin em relação à
natureza sócio-histórica da linguagem e, conseqüentemente, do gênero
textual, fiel representante dos movimentos retóricos de uma determinada esfera
de atividade humana: teoria que norteou o nosso trabalho.
Numa
perspectiva mais específica, o fato de constatarmos empiricamente que o e-mail
vem sendo reconhecido como uma expressão metonímica em que o suporte é
designado pelo conteúdo e, em sua funcionalidade engloba grande parte dos gêneros
tradicionalmente praticados no mundo organizacional, leva-nos a confirmar a hipótese
inicialmente defendida de que as formas de comunicação empresarial sofreram um
forte impacto provocado, sobretudo pelas novas tecnologias de comunicação.
Obviamente,
o modelo atual de gestão empresarial também contribuiu para as alterações
registradas, além de aspectos psicológicos relacionados aos participantes
que, devido ao contexto econômico, esforçam-se para alcançar a eficácia
tão exigida pelo sistema. E, eficácia na esfera profissional relaciona-se
intimamente com a maneira como se dão as manifestações discursivas dentro e
fora dos limites das organizações. Motivo pelo qual, cada vez mais, as
empresas investem em tecnologia de informação.
Nossos
estudos confirmam ainda a idéia postulada por Swales (1990) de que o propósito
comunicativo é um aspecto constitutivo do gênero.
Hoje,
mais do que nunca, é o propósito comunicativo que define a manifestação
discursiva a ser usada, o que na prática profissional significa o uso da
oralidade, do telefone ou do e-mail. Esse último traz a vantagem adicional de
poder ser registrado e confirmar a recepção da mensagem, entre outras coisas,
motivo pelo qual essa é a forma de comunicação interna e externa mais usada
no meio empresarial.
Com
tudo isso, um último questionamento pode ainda ser feito: Afinal de que forma
este estudo diz respeito ao ensino praticado em nosso país? Inicialmente,
devemos considerar o fato de vivermos em um país cujas diferenças de acesso às
tecnologias minimizam infinitamente a nossa esperança de mudança na maneira
como os alunos vêm sendo preparados para enfrentar o mundo aqui representado.
Vivemos
realidades paradoxais. Enquanto o mundo corporativo constitui-se na
virtualidade, o sistema educacional brasileiro opera com base no quadro de giz e
ambientes pouco estimuladores ao desenvolvimento de habilidades tais como:
criatividade, proatividade, autonomia, capacidade de decisão e síntese: itens
exigidos em qualquer processo seletivo da empresa da era digital.
Com
este estudo, portanto, desejamos nos unir a todos aqueles que acreditam num
redirecionamento do papel da escola em sua função primordial que é
proporcionar ao aluno condições reais de competir por uma vaga no mercado de
trabalho. Para tanto, faz-se necessário diminuir a grande distância existente
entre a realidade educacional brasileira e o ambiente empresarial. Caso isso
ocorra, teremos cumprido a nossa principal meta.
BAKHTIN,
Mikhail. Os gêneros do discurso. In Estética da Criação Verbal. São
Paulo: Martins Fontes, 1992, p.277-326.
BAZERMAN,
C. Prefácio a BIBER, N. R. Professional Communication: The social
perspective. London: Sage Publications, 1993, p.7-8..
BHATIA,
Vijay K. Genre Analysis Today. Revue Belge de Philologie et
d’Histoire, Bruxelles(75:625-652), 1997 (Tradução: Benedito Gomes Bezerra).
CAVALO,
Guglielmo; CHARTIER, Roger. História da leitura no mundo ocidental.São
Paulo: Ática, 1998.
CRYSTAL,
David. Language and Internet. Cambridge, Cambridge
University Press, 2001.
EXAME,
revista. As 100 melhores empresas para você trabalhar.
GUIA
EXAME 2001. Parte integrante da
Revista Exame ed. 749 e Você S.A
ed. 39 (p.92)
MARCUSCHI,
Luis Antônio.Os gêneros textuais: definição e funcionalidade. In Gêneros
textuais. Dionísio, Ângela P. et
al(Orgs). 2a ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002
(p.19-36).
______
Gêneros Textuais: o que são e como se constituem. Recife: 2000 (mimeo).
______
Gêneros textuais emergentes e atividades lingüísticas no contexto da
tecnologia digital. São Paulo,
GEL-Grupo de Estudos Lingüísticos do
Estado de São Paulo, 2002 (mimeo).
______
Gêneros textuais emergentes e atividades lingüísticas no contexto da
tecnologia digital, 2002(mimeo).
MEURER,
José Luis.& MOTTA-ROTH, Desirée. (orgs.).
Gêneros textuais e práticas discursivas para o ensino da linguagem. São Paulo: EDUSC, 2002.
MILLER,
Caroline. Genre as a
social action. In FREEDMAN,
A.& MEDWAY P.(orgs.).
1984.
_______
Rhetorical Community: The Cultural Basis of Genre. (Op.
Cit..) p.67-78. 1994.

[1] Sobre o estudo desse gênero, remetemos o leitor à tese de douorado de Maria Inês Matoso Silveira (UFPE, 2002) no qual a autora analisa a produção de ofícios em empresas públicas.
[2] Acreditamos que a leitura e produção em tela são a mais recente revolução no comportamento comunicativo desde a invenção da imprensa. O meio digital surge para atender às necessidades de uma sociedade em que a velocidade, objetividade e concisão são características inerentes do produtor/leitor da era digital.