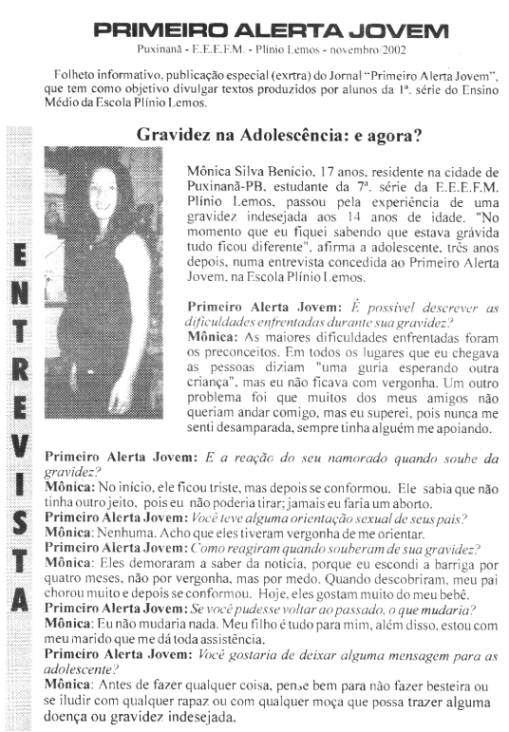INTRODUÇÃO
Sabemos
que o permanente desafio enfrentado mundialmente, que universaliza o letramento
– habilidades e práticas de leitura e escrita –, está intrinsecamente
relacionado com outro desafio: o de avaliar e medir o avanço em direção a
essa meta. Por essa razão, estimular os alunos a refletirem acerca dos modos de
leitura e de escrita poderá ajudá-los a desenvolver estratégias mais
adequadas para suas práticas sociais.
Considerando
a amplitude dos estudos que envolvem a língua, torna-se impossível pensar na
relação fala escrita preocupada apenas com o código, uma vez que essas
modalidades não podem ser analisadas de forma estanque, mas sob realidades que
envolvem um conjunto de práticas sociais
discursivas, vistas num processo de construção e de domínio de
conhecimento, obrigatório no contexto educacional (Marcuschi, 2001).
Valorizar
a realidade sócio-cultural dos alunos, no ambiente escolar, é falar em gênero
textuais. Discutir um gênero, usando exclusivamente critérios formais,
exigindo apenas o domínio de estruturas, noções lingüísticas e conseqüente
produção, desconsiderando o funcionamento que tem no dia-a-dia, em nada altera
os conhecimentos práticos dos aprendizes.
Os
gêneros textuais não dependem da compreensão de um indivíduo particular, mas
de toda uma formação social. Por isso, ao trabalhá-los em sala de aula,
estimulando os alunos a descobrirem as características de cada um, contribui
também para produção textual. Este trabalho é uma nova maneira de abordar a
língua em seus aspectos mais freqüentes do dia-a-dia, inserindo, inclusive os
recursos lingüísticos, como defende a proposta dos PCN (1998).
Pensando
nessa realidade, propomo-nos, neste trabalho, relatar os procedimentos adotados
em uma experiência com o ensino de gêneros textuais, em especial, a
entrevista. Selecionamos este gênero tanto porque acreditamos que os alunos
escutam-no, ouvem-no e vêem-no constantemente na mídia local, quanto
permite-nos compará-lo entre as modalidades oral e escrita, atendendo às
sugestões dos PCN (op. cit.).
Realizamos
a pesquisa em uma turma de 1o. ano do Ensino Médio, no turno da
noite, em uma escola da rede pública, situada na cidade de Puxinanã, interior
de Campina Grande/PB. A escolha desta escola deveu-se ao fato de que a
professora-pesquisadora lecionava ali a disciplina Língua Portuguesa.
Os
procedimentos adotados constituem o que chamamos de seqüência didática, que
pode ser justificada, basicamente, pelo fato ser uma série de exercícios
oferecidos de forma gradual e progressiva à compreensão dos alunos, estando
relacionada tanto ao objetivo, quanto à sua ação, que constituem,
respectivamente, o ato de aprender e de ensinar, conforme apontam Dolz &
Schneuwly (1996).
Os
dados aqui apresentados - parte de uma pesquisa que está em andamento, a ser
apresentada como dissertação de mestrado – demonstram um resultado satisfatório,
visto que as aulas ministradas, durante o período compreendido entre setembro a
novembro, referentes,
respectivamente, ao final do terceiro e início do quarto bimestres do ano de
2002, seguiram seqüências de leitura teórica, análise do gênero e produção
escrita, resultando na publicação de uma entrevista, num folheto informativo,
distribuído num evento anual realizado pela escola, que teve grande visitação
da população local e regional.
A
análise dos dados está fundamentada, principalmente, nas contribuições teóricas
de Marcuschi (2001 e 2002) e Hoffnagel (2002).
1.
CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA
Em função do objetivo proposto, desenvolvemos nossa pesquisa em uma
escola pública, pois acreditamos que neste ambiente os professores sentem-se
mais livres para experimentar suas práticas educacionais. Para tanto, antes de
relatarmos esta experiência, julgamos relevante caracterizarmos, de forma
breve, a cidade, a escola e os sujeitos envolvidos neste estudo.
Caracterização
da cidade
O município do Puxinanã localiza-se na Mesorregião do Agreste
Paraibano e na Microrregião de Campina Grande, leste do estado da Paraíba.
Possui uma área de 82,4 km2, estando situado a uma distância de 18 km de
Campina Grande e 139 km da capital. Possui uma população equivalente a 11.981
habitantes, com uma densidade demográfica de 146,1 habitantes por km2, sendo
que a quantidade de domicílios rurais é superior a urbana.
Esta
cidade é dependente de cidades circunvizinhas quanto a serviços sócio-econômicos,
do tipo bancário, hoteleiro, e a atrativos culturais, como teatro, cinema,
casas de shows, shopping centers. Em decorrência disso, Puxinanã não
dispõe de grandes opções de lazer e entretenimento, restando, além dos
encontros noturnos na praça central, a escuta de rádios (de outras
localidades, já que a cidade não dispõe deste suporte de comunicação) e a
exibição de programas televisivos (como os das emissoras Globo e SBT).
O
sistema educacional urbano é constituído por trinta e três unidades
escolares, dividas entre trinta municipais e três estaduais; já o rural é
composto por trinta unidades. O sistema educacional, num todo, dispõe também
de uma biblioteca pública, que funciona nos três expedientes, com um acervo
variado entre literatura brasileira, poesia, livros didáticos, revistas, atlas
etc.
Caracterização
da escola
A
escola, onde realizamos a pesquisa, foi o primeiro estabelecimento de ensino do
município. A princípio, funcionava apenas o Ensino Fundamental, surgindo, no
decorrer dos anos, a implantação do Ensino Médio. Atualmente, é a única
escola da cidade com Ensino Médio e que funciona nos três turnos. Julgamos
relevante destacar alguns de seus aspectos como condições físicas, corpo
docente, planejamento didático-pedagógico, serviços de apoio ao ensino e
transporte escolar gratuito para os professores.
Quanto
às condições físicas, nesta escola funcionavam apenas oito
salas de aula, com poucas cadeiras para a demanda de alunos matriculados. Em
algumas, o quadro-de-giz estava quebrado e a iluminação era precária. A sala
reservada à biblioteca era bastante pequena, com espaço apenas para uma
cadeira e uma carteira, já o acervo de livros ali existente resumia-se a didáticos
e a paradidáticos. A escola dispunha ainda de auditório, cozinha, banheiros
com precárias instalações, salas de diretoria, de professores, de secretaria,
e um pátio onde estava sendo construído um ginásio de esportes para os
eventos escolares e municipais.
Quanto
ao corpo docente, alguns dos professores não eram graduados nas áreas
atuantes. Um exemplo era a professora que lecionava Língua Portuguesa, de 6a.
a 8a. séries, no turno
da noite. Apesar de sua graduação ser em Ciências Sociais, lecionava Língua
Portuguesa há pelo menos oito anos. A professora-pesquisadora, no entanto,
possuía graduação em Letras e até o momento da coleta dos dados tinha apenas
dois anos de experiência nas séries equivalentes ao Ensino Fundamental e Médio,
em escolas particulares.
Quanto
ao planejamento didático-pedagógico, cada professor elaborava o seu, sendo
assim, não havia reuniões periódicas de áreas ou entre coordenação e
professores para planejamento, avaliação ou propostas de atividades para o
bimestre ou semestre seguinte. Também não havia um estímulo para aplicação
e/ou participação dos professores em cursos de reciclagem.
Quanto
aos serviços de apoio ao ensino, a secretaria da escola, apesar de dispor de
uma máquina de datilografia e de um extenso a álcool, não dispunha de funcionários
para preparar material didático. Como não havia computador, retroprojetor, máquina
de xérox, ou doação de livros didáticos para Ensino Médio, o trabalho em
sala de aula, algumas vezes, ficava um pouco prejudicado, pois, exceto a presença
do professor e o quadro-negro, só havia um único vídeo cassete disponível,
excessivamente disputado.
E, quanto ao
transporte escolar gratuito para os professores, tendo em vista que a maioria
residia em Campina Grande, ao invés de assegurar a pontualidade destes
profissionais, prejudicava o andamento das aulas. O transporte chegava à escola
por volta das 19:30h, restando apenas vinte (20) minutos para o término da
primeira aula e retornava às 22:10h, para levar os professores de volta para
Campina Grande, desperdiçando, mais uma vez, vinte (20) minutos da última
aula. Com isso, as aulas ministradas na turma observada também ficavam
prejudicadas, uma vez que o horário da disciplina Língua Portuguesa na turma
observada era sempre às quartas-feiras, nas três primeiras aulas, e às
quintas-feiras, nas duas primeiras.
1.3
Caracterização dos sujeitos
Na tentativa de conhecermos um pouco mais sobre a realidade sócio-educacional
dos sujeitos - alunos do primeiro ano do ensino médio – e suas experiências
com leitura/escrita, aplicamos, em sala de aula, um questionário para a obtenção
destes dados. Os resultados estão representados graficamente nos quadros 1, no
qual registramos aspectos como sexo, faixa etária, residência e escolaridade,
e 2, no qual apresentamos aspectos como hábito de ler, leituras preferidas,
dificuldades na escrita e prática de reescritura. Observemos o quadro 1 abaixo:
Quadro
1 – Realidade Sócio-Educacional
|
Sexo
|
Faixa
Etária*
|
Residência
|
Escolaridade
|
|
M
|
F
|
15-17
|
18-20
|
20-23
|
Rural
|
Urbana
|
Pública
|
Privada
|
Mista
|
|
25
|
27
|
18
|
26
|
6
|
28
|
24
|
51
|
-
|
1
|
*
2 alunos omitiram a idade
A
partir destas informações, percebemos que, entre os cinqüenta e dois
informantes,
a maioria era do sexo feminino, num total de vinte e sete alunos. A faixa etária
deste alunado, que variava entre quinze e vinte e três anos, é pouco
discrepante, fugindo ao padrão considerado normal pelas instituições
educacionais. Esta variação na
idade pode ser justificada tanto pela repetência e/ou evasão escolar
existentes nas escolas públicas, quanto pelo fato de que este alunado
trabalhava o dia inteiro em fábricas, mercadinhos, lares ou mesmo na roça e,
à noite, sentiam-se extremamente cansados e/ou desmotivados para concluir o
Ensino Médio. Nesta turma, por exemplo, alguns alunos
estavam cursando o primeiro ano do Ensino Médio há pelo menos cinco
anos.
Do total, vinte e oito
residiam na zona rural, cujas casas estavam cerca de um a cinco quilômetros da
escola, localizadas em comunidades próximas do município, de forma que vinham
para a escola a pé, de bicicleta, de moto ou no transporte escolar. A maioria
dos alunos tinha um baixo poder aquisitivo, talvez, por isso, com exceção de
um, os alunos só freqüentaram a escola pública. Passemos, agora, a observação
de suas experiências com leitura e escrita, conforme registra o quadro 2:
Quadro
2 – Experiências com Leitura e Escrita
|
Hábito
de Ler
|
Leituras
Preferidas
|
Dificuldades
na Escrita
|
Prática
de Reescritura
|
|
Sim
|
Não
|
Esportes
|
Relacionamentos
|
Outros
|
Estruturação
|
Gramatical
|
Raramente
|
Nunca
|
Algumas
vezes
|
|
27
|
25
|
20
|
16
|
16
|
29
|
23
|
13
|
16
|
23
|
Após a leitura do quadro 2, percebemos que, quanto ao hábito de ler, a
maioria afirmou ler com freqüência, dando prioridade a assuntos como esportes
e relacionamentos, porém muitos só liam revistas ou romances quando pediam
emprestados a alguém.
No que se refere à escrita,
vinte e nove alunos admitiram que sentiam dificuldade na estruturação e vinte
e três assumiram que só algumas vezes praticaram a reescritura. Poucas vezes
os antigos professores comentaram os problemas existentes nas produções
escritas. Em decorrência disso, a maioria desses alunos considera o seu
desempenho escrito regular e admite que se sentiria constrangido ao julgar o
texto de um colega.
Quando questionados acerca
da importância que tinha ou que pudesse vir a ter a escrita em suas vidas,
alguns revelaram que “aprenderia a raciocinar, a contar histórias”,
outros acreditavam que “melhoraria a comunicação” e ainda há aqueles que
defenderam que “melhoraria na ortografia e aprenderia a ler corretamente”. A
partir desta realidade, percebemos que esses alunos tinham uma experiência com
a escrita especificamente marcada pelas atividades escolares existentes nos
manuais didáticos.
2.
GÊNEROS TEXTUAIS E O ENSINO DE LÍNGUA
Os PCNs de Língua Portuguesa,
que assumem teoricamente a perspectiva enunciativa/discursiva de linguagem,
visam principalmente a um ensino voltado para a formação de cidadãos,
evidenciando um desenvolvimento efetivo da competência discursiva dos alunos,
considerando o texto como o ponto inicial para que sejam concretizadas ações
pedagógicas. Nesse sentido, pensar em ensinar textos a partir dos critérios
estruturais/formais (narrar, descrever e dissertar) ou estruturais/funcionais
(informativos, apelativos ou literários) não fornece pistas para o professor
decidir o que vai ensinar ou avaliar, mas sim, desvaloriza o processo de
compreensão/produção dos textos.
Para
trabalharmos com o texto, é relevante associarmos o gênero envolvido com os
componentes de descrição, tais como as características sócio-historicamente
construídas (as práticas sociais), o contexto de produção, o conteúdo temático,
a construção composicional (a forma de dizer) e o estilo verbal disponíveis
na língua e baseados nos aspectos enunciativos do texto. Desse modo, poderíamos
refletir sobre a dificuldade que teríamos para enquadrar o gênero entrevista
em um dos três tipos mais conhecidos de textos (narração, descrição ou
argumentação).
Na perspectiva
sociodiscursiva, o gênero passa a ser caracterizado muito mais “por suas funções
comunicativas, cognitivas e institucionais, do que por suas peculiaridades lingüísticas
e estruturais” (MARCUSCHI, 2002). Sendo assim, não podemos considerar os
textos trabalhados com nossos alunos como algo imutável, pois, à medida que se
expandem suportes voltados à comunicação (como rádio, tv, internet, revista,
jornal), surgem gêneros bastante novos (como videoconferências, aulas
virtuais, reportagens ao vivo). Os gêneros estão materializados em nosso
cotidiano e suas características são definidas a partir dos conteúdos, das
funções, do estilo e da composição do texto, auxiliando, sobretudo, a
comunicação, como argumenta Marcuschi (2002, p.23).
O
gênero entrevista, por exemplo, apesar de ter linguagem e público-alvo
variados, é de fácil contato, pois, além de ser de longa tradição, sempre
está presente na mídia cotidiana. Sendo assim, podemos destacar algumas
características deste gênero, segundo Hoffnagel (2002, pp 81-83):
 |
tem
como função primária informar o público e formar a opinião pública; |
 |
apresenta
de uma estrutura marcada por ‘perguntas e respostas’; |
 |
é
um gênero primordialmente oral, pois, mesmo quando publicado, geralmente,
foi produzido oralmente e depois transcrito; |
 |
quando
publicada, exibe fotografias do entrevistado. |
Ter
contato com gêneros, como a entrevista, deve ser um dos critérios utilizados
na escola desde o início do Ensino Fundamental até o final do Ensino Médio,
pois consideramos tanto as necessidades do aluno e suas possibilidades de
aprendizagem, quanto o grau de familiaridade e o tipo de abordagem que o gênero
exige.
Neste
estudo, optamos por fazer uma proposta de retextualização envolvendo
fala e escrita, como ressalta Marcuschi (2001). À princípio, no que se refere
à produção escrita, esclarecemos aos alunos que não se tratava de
reorganizar a fala dos entrevistados e dos entrevistadores como se elas
estivessem má compreendidas, mas sim, reorganizar os conhecimentos obtidos
através da fala para a escrita, adequando as circunstâncias para tornar a
entrevista mais elaborada, como mecanismo de avaliação comum no ambiente
escolar.
Esse
tipo de proposta está intimamente ligado com as atividades diárias tais como
preparar a lista de compras que a mãe citou, ou passar para o caderno as
características de determinado momento histórico que o professor tenha
comentado em sala (MARCUSCHI, op. cit., p. 49). Para realizar tal façanha,
utilizando qualquer gênero, é preciso previamente entender ou compreender o
que foi lido ou dito por alguém. É importante ressaltar que o texto escrito não
anula o texto falado, é apenas uma outra forma de representação, já que a
escrita, neste contexto, não é vista como uma modalidade sobreposta à fala,
mas que caminha uma ao lado da outra.
3.
DESENVOLVIMENTO DA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA APLICADA NO ENSINO
Inicialmente,
este contato ocorreu com informações baseadas nos conhecimentos prévios dos
alunos, ao serem questionados sobre o gênero em questão. Algumas idéias foram
apresentadas, conforme podemos constatar a seguir:
1.
Tem um entrevistador e um entrevistado;
2.
Tem troca de falas, um pergunta e outro responde;
3.
É feita com pessoas famosas;
4.
Pode ser escrita, gravada ou filmada.
Observemos
a partir destas falas que os alunos, facilmente, apontaram características
gerais sobre a entrevista, como tipo de estrutura, funções e finalidades, dada
a circulação deste gênero na mídia local.
Em
seguida, os alunos realizaram a leitura e a compreensão do artigo
“Entrevista: uma conversa partilhada”, de Hoffnagel (2002), material teórico
que pôde ser comparado com as informações anteriormente apresentadas acerca
do gênero.
Considerando
que os alunos tinham uma prática de leitura voltada a textos curtos, como os
dos manuais didáticos, eles acharam este artigo teórico muito extenso. Desta
forma, dividimo-lo por tópicos e distribuímos questões que auxiliariam na
compreensão, num todo. Também dividimos a turma em cinco grupos, com uma média
de sete pessoas em cada um.
Concluída
a leitura, realizamos com toda a turma a discussão do artigo, a partir das
respostas destinadas às questões. De fato, os alunos não tiveram muitas
dificuldades em identificar as características da entrevista, pelo contrário,
perceberam que algumas daquelas apontadas, no início da discussão, foram
comprovadas, como uma estrutura marcada por perguntas e respostas, a presença
de um entrevistado e de, no mínimo, um entrevistador, como apontado por
Hoffnagel (2002, p.181-183).
Porém,
o fato de que a entrevista não precisa ser feita, necessariamente, com pessoas
famosas, foi bastante discutido. A expressão ‘famosas’ está diretamente
voltada a um contexto específico, podendo ser feita, no caso das impressas, a
um especialista, que entenda e esclareça um assunto, a uma autoridade, que é
conhecida pelo público, ou que a pessoas públicas, que promoverão o
entrevistado (ou o grupo representado) ou se tornarão mais conhecidas, como
ressalta Hoffnagel (2002, p. 183).
Logo
após a discussão, os alunos tiveram um contato com o gênero na modalidade
oral, assistindo em vídeo a exposição de uma entrevista apresentada pela tv
Futura, feita a uma antropóloga, cujo tema era Organizações Não-Governamentais
(ONG). Após a exibição, os alunos destacaram alguns aspectos, como pode ser
observado nos comentários abaixo transcritos:
1.
Ah! O entrevistador está bem sentado;
2.
A mulher que está entrevistando tem um papel nas pernas;
3.
Acho que esse papel são as perguntas que ela vai fazer;
4.
Essa entrevista não demorou muito, não;
5.
Há um certo respeito entre elas duas;
6.
Parece que elas estão conversando
Com
base nestes comentários, notificamos que aspectos como postura do
entrevistador, perguntas formuladas e organizadas previamente, duração da
entrevista, sinceridade do entrevistado, espontaneidade e envolvimentos de ambos
foram amplamente apontados e discutidos.
Em
seguida, abordamos o gênero na modalidade escrita. Distribuímos duas
entrevistas publicadas nas revistas Superinteressante (janeiro, 2002) e Veja (23
de outubro de 2002), com o objetivo de analisar a macroestrutura, associando-a
às características observadas no artigo. Vale salientar que a escolha dessas
revistas deveu-se ao fato de terem práticas de letramento diferentes: a revista
Superinteressante circula mensalmente (de janeiro a dezembro) e aborda temas de
interesses mais científicos, históricos e tecnológicos; já a revista Veja
circula semanalmente (quatro edições semanais, além de seis edições
especiais, durante o ano) e preocupa-se com temas voltados mais ao panorama
social, cultural, político e econômico do país. Dentre os comentários dos
alunos acerca dessas duas entrevistas, destacamos:
1.
Tem foto nas duas;
2.
Tem uma frase do entrevistado na foto;
3.
Antes da entrevista, tem alguém falando sobre o entrevistado;
4.
No lugar do nome da pessoa que faz as perguntas, tem o nome da revista.
É
interessante refletirmos acerca destes comentários, pois eles foram feitos
naturalmente, como se os alunos tivessem certeza do que estavam dizendo, fruto,
mais uma vez, da facilidade em reconhecer características comuns em
entrevistas.
Um
aspecto discutido foi o apresentado por 4. Mesmo o leitor sabendo que quem havia
feito a entrevista era um entrevistador (ou um grupo), na edição, o lugar
destinado ao nome deste entrevistador ficava o nome da revista. Ou seja, se
qualquer aluno da sala fosse fazer uma entrevista, ele poderia estar
representando a “Turma do 1º ano noite”. O fato de raramente, nas
entrevistas impressas, o nome do entrevistador ser usado na apresentação da
entrevista, é também apontado por Hoffnagel (2002, p. 184). Após essas
discussões, encerramos a etapa de contato com o gênero e passamos para a etapa
da produção de entrevistas.
-
2a. Etapa: Produção de Entrevistas
Nesta
segunda etapa, que durou três semanas e meia, um período de dezoito
horas/aula, decidimos realizar, em grupos, algumas entrevistas reais e,
posteriormente, efetivarmos a retextualização de uma destas entrevistas,
objetivando sua publicação. Para isso, definimos um tema que, além de ser polêmico
e de ter grande incidência de casos na cidade, os alunos demonstraram interesse
em explorá-lo. Como dentre as suas leituras preferidas estava relacionamento,
eles optaram por abordar sobre ‘Gravidez na adolescência’.
Selecionamos
algumas pessoas que residiam na própria cidade e que pudessem contribuir com
informações acerca do assunto escolhido. As pessoas escolhidas foram um padre,
uma assistente social, uma enfermeira, uma pediatra, uma jovem (grávida na
adolescência) e uma mãe de adolescente, que viveu esta realidade. Estas
entrevistas seriam apresentadas no evento da escola, chamado de ‘Amostra Pedagógica’.
Dividimos a turma em seis grupos, de forma que cada um ficou responsável por
entrevistar uma das pessoas citadas. A entrevista com a jovem (grávida na
adolescência) foi filmada em vídeo e as demais foram gravadas em áudio.
Primeiramente,
os alunos elaboraram, em casa, algumas perguntas que serviriam de orientação
durante a realização das entrevistas. Na sala de aula, estas perguntas foram
revisadas sob a orientação da professora-pesquisadora, tendo em vista a
dificuldade dos alunos de organizá-las e contextualizá-las. Para termos uma idéia
das perguntas elaboradas previamente, vejamos alguns exemplos:
1.
Qual a importância do parceiro nessa hora?
2.
Na sua opinião, você acha que hoje em dia o caso de gravidez na adolescência
é falta de informação ou falta de opinião?
Estas
duas perguntas formuladas seriam feitas à médica da cidade. No entanto, a
pergunta do exemplo 1 pareceu ter sido elaborada para ser feita a uma pessoa
conhecida, íntima e não para ser a primeira pergunta feita a uma pediatra. Além
disso, o aluno utilizou expressões típicas de conversas de bate-papos, como
“parceiros” em vez de ‘namorado’, e “nessa hora”, no lugar de ‘no
momento em que descobre a gravidez de sua namorada’. Já a pergunta 2 contribuía,
não só para que o entrevistador respondesse apenas a uma das opções de forma
objetiva, como também desvalorizaria o conhecimento profissional da
entrevistada.
Reconhecendo
essas e outras dificuldades, retomamos as entrevistas publicadas nas revistas,
notificando como as perguntas estavam elaboradas. Vale registrar também o
nervosismo e a dificuldade de alguns grupos responsáveis pelas demais
entrevistas, como a do padre, já que a situação exigia formalidade, tanto em
relação à pessoa entrevistada, quanto ao assunto abordado.
O
grupo responsável pela entrevista com a jovem (grávida na adolescência),
facilmente, conseguiu realizar sua atividade, pois a entrevistada estudava na
escola, era irmã de um dos componentes do grupo e mostrou-se aberta à discussão
sobre o tema. Sendo assim, após a gravação em vídeo desta entrevista, toda a
turma assistiu a exibição. Alguns dos comentários feitos são revelados nas
falas a seguir:
1.
O som ficou muito baixo;
2.
Não dá para ouvir direito;
3.
Ficou uma coisa, assim, meio mecânica, artificial;
4.
Não houve espontaneidade, nem do grupo, nem da menina.
A
turma, primeiramente, reclamou que houve problemas com a parte técnica da
filmadora, motivo que assistimos à fita mais de uma vez. Depois, eles
argumentaram que houve uma falta de espontaneidade tanto por parte do
grupo-entrevistador, quanto por parte da jovem-entrevistada, o que pode ser
justificado pela falta de prática neste tipo de produção oral. Logo após,
acrescentaram que todo o grupo (total de sete pessoas), responsável por esta
entrevista, estava presente no momento da filmagem, mas que apenas uma parte
dele (quatro pessoas) fez o papel de entrevistador, o restante ficou como público,
deixando a entrevistada um pouco nervosa. Devemos considerar também que a
filmadora intimidou os envolvidos.
Outro
problema detectado foi que os entrevistados leram, literalmente, as perguntas
que estavam no roteiro, mesmo sabendo que elas deveriam servir apenas como
orientação, como roteiro, para a produção do gênero em destaque (HOFFNAGEL,
2002), gerando uma certa monotonia e mecanicidade. Outro aspecto polêmico foi o
fato de a jovem ter pedido para ler as perguntas feitas antes de ser iniciada a
entrevista, o que pode ter influenciado nas respostas objetivas e diretas. Para
afeito de demonstração, foram selecionados trechos desta entrevista, como
apresentados abaixo:
G:
Em algum momento você escondeu sua gravidez? Por quê?
E:
Eu escondi até os quatro meses, não por vergonha, mas sim, por medo.
G:
Sua gravidez foi planejada ou por acaso?
E:
Foi por acaso.
G:
Em algum momento você pensou em aborto?
E:
Não, nenhum momento eu pensei nisso.
Como
vemos, estes três pares de ‘perguntas-respostas’ lembras as famosas questões
fechadas, típicas dos manuais didáticos que comumente os alunos lêem, não
havendo uma iniciativa do grupo para formular outras perguntas e incentivar uma
maior argumentação nas respostas. Sendo assim, o próprio grupo sugeriu que
esta entrevista deveria ser feita novamente, mas com apenas dois membros do
grupo, escolhidos por terem se destacado no papel de entrevistadores e serem
amigos da entrevistada.
Os
demais grupos realizaram as outras entrevistas gravadas em áudio. Uma delas,
feita com o padre, foi ouvida em sala de aula e comparada com a entrevista
filmada. Depois disso, transcrevemos parte da entrevista com o padre, no
quadro-negro, enfatizando as características da transcrição, do oral para o
escrito.
Enquanto
isso, o grupo responsável pela entrevista filmada, realizou sua reedição. O
resultado desta nova versão, na íntegra, podemos observar a seguir:
E2:
Fizemos uma entrevista no colégio Plínio Lemos com a jovem Mônica Silva Benício,
em que ela conta sua história que engravidou aos 14 anos.
E1:Qual
foi a reação do seu namorado quando soube de sua gravidez? Você continua com
ele? Ele lhe dá assistência?
E:
Quando ele ficou sabendo, ficou triste mas depois se conformou. Porque ele sabia que eu não iria abortar.
E1:
E a reação dos seus pais?
E:
Logo depois que souberam da notícia ficaram tristes. Por dois motivos: um, pelo
simples fato de saberem que eu estava grávida; outro, porque foram os últimos
a ficarem sabendo.
E1:
Vocês usavam algum método anticoncepcional?
E:
Sim, usávamos camisinha.
E1:
Você teve acompanhamento médico?
E:
Tive, até os nove meses.
E1:
Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas durante sua gravidez?
E:
O maior problema foi o preconceito da sociedade, pelo fato de eu estar grávida
tão nova.
E1:
Em algum momento você esteve desamparada? Você teve apoio dos amigos?
E:
Não, sempre alguém me apoiou, mas foram poucas as amigas que me apoiaram. A
maior parte delas se afastaram de mim por preconceito.
E1:
Se você pudesse voltar ao passado, o que você mudaria?
E:
Eu não mudaria nada; meu filho é tudo pra mim.
E1:
Que tipo de orientação você recebeu de seus pais sobre gravidez na adolescência?
E:
Nenhuma, nunca conversamos sobre o assunto.
E2:
Ao saber que estava grávida, como você se sentiu?
E:
tudo mudou!
E2:
Você acha que hoje em dia, o caso de adolescentes grávidas são mais raros ou
cada vez mais está freqüente?
E:
Não, estão se agravando. Eu acho que principalmente os adolescentes da zona
rural, não recebem orientação adequada de seus pais. Até mesmo porque eles não
tiveram nenhuma orientação na adolescência.
E2:
Na sua opinião, você acha que hoje em dia o caso de gravidez na adolescência
é falta de informações ou falta de opinião?
E:
Eu acho que os dois. Muitas sabem que devem se prevenir, porque conhecem os
riscos de uma gravidez não desejada e os riscos de pegar doenças sexualmente
transmissíveis.
E2:
Qual a mensagem que você deixa para os adolescentes de hoje?
E:
A mensagem que eu deixo é, antes de fazer qualquer coisa, pense bem. E não se
iluda com qualquer rapaz ou moça, para que não ocorra uma gravidez indesejada,
evitando, assim, as doenças sexualmente transmissíveis.
Comparando
esta transcrição com os fragmentos a pouco apresentados, parece-nos que alguns
problemas como ‘perguntas-respostas’ extremamente objetivas e fechadas,
permaneceram. Porém, algumas dessas perguntas foram feitas sem que estivessem
no roteiro e, a qualidade do som também melhorou.
Ao
lemos as duas primeiras perguntas desta reedição, percebemos que,
intuitivamente, o entrevistador E1 omitiu o pronome interrogativo “qual”, na
segunda pergunta, talvez, consciente que o assunto abordado era uma extensão da
primeira pergunta. Este recurso também tinha sido observado durante as discussões
acerca das entrevistas editadas nas revistas Superinteressante e Veja.
Restando
apenas alguns dias para a realização do evento Amostra Pedagógica,
trabalhamos com toda a turma a retextualização, da fala para a escrita
(MARCUSCHI, 2001), apenas da entrevista filmada com a jovem, tendo em vista sua
publicação em um folheto informativo, que conteve também depoimentos das
demais pessoas entrevistadas.
Ao
trabalharmos a retextualização, tivemos a precaução de esclarecer aos alunos
que a entrevista oral não estava “errada”. Contudo, era necessário
fazermos alterações, já que o público-alvo do folheto abrangeria pessoas de
faixa etária variada e algumas respostas estavam ainda muito resumidas. Desta
forma, a solução encontrada foi unir as respostas dadas nas duas gravações
anteriores, produzindo uma versão escrita do gênero, conforme podemos observar
abaixo:
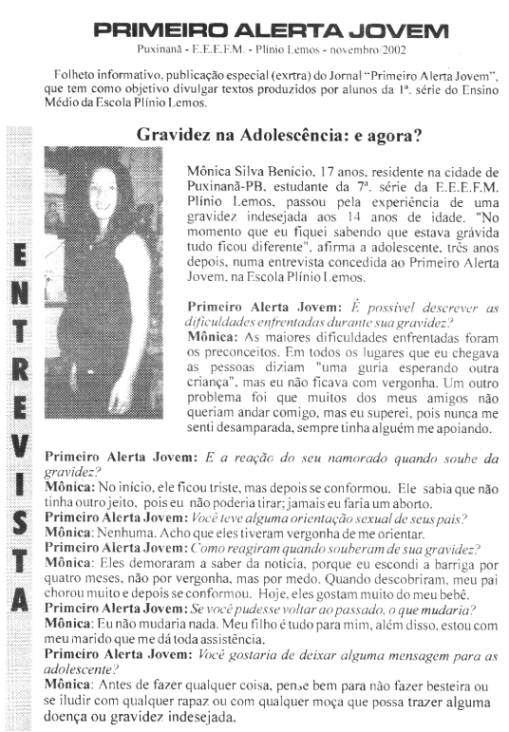
Após
a leitura desta publicação, observemos, que o número de perguntas foram
condensadas, passando de doze para apenas seis. É interessante destacarmos também
que algumas expressões como “É possível descrever...” (primeira pergunta)
foram inseridas, despertando no leitor o interesse para ler a entrevista
editada.
Outra
alteração ocorreu nas respostas que, umas unidas a outras, geraria maior
interesse pela leitura. Podemos apontar, como exemplo, a primeira resposta da
entrevistada. Comparando esta fala com trechos das duas entrevistas filmadas,
registramos que se trata de quatro respostas dadas a quatro perguntas
diferentes. Este procedimento, aceito e adotado em suportes como revistas e
jornais (HOFFNAGEL, 2002), ocorreu nos demais pares ‘perguntas-respostas’
desta produção escrita.
Devemos
destacar ainda que o título dado à entrevista, o resumo apresentado no início,
a foto da jovem, a substituição do nome dos entrevistados pelo nome do folheto
informativo e a ordem das perguntas formuladas, foram organizados pelos alunos,
sob a orientação da professora-pesquisadora. Gostaríamos de destacar também
que cerca de mil pessoas visitaram o evento e receberam o folheto informativo
Primeiro Alerta Jovem.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Nesta
fase final, algumas observações são pertinentes acerca dos procedimentos
adotados na experiência com o ensino de gêneros. No que se refere à estrutura
do gênero entrevista, percebemos que os alunos facilmente identificam-na e
corrigiram-na, porém, quando enfatizamos a importância da reescritura, eles
reclamaram e acharam-na cansativa.
Encontramos
outras dificuldades para desenvolvermos esta pesquisa, tais como: falta de apoio
dos professores, tanto das demais disciplinas, quanto dos que lecionavam Língua
Portuguesa; curta duração das aulas, devido à chegada tardia do transporte
escolar; ausência de tempo dos alunos para desenvolver suas atividades
extra-classe; e falta de condições físicas da escola para a realização do
trabalho em sala de aula.
Apesar
disso, foi prazeroso percebermos nos rostos dos alunos a satisfação em
desenvolverem um projeto que resultou não só numa atividade para a professora
dar nota, mas num trabalho que valorizou as suas práticas sociais, repercutindo
em toda sociedade, como comprovam os depoimentos dos alunos, nas falas a seguir:
1.
Na minha opinião foi legal, porque podemos mostrar um trabalho como esse
à sociedade.
2.
Foi uma idéia muito legal, porque é mais uma forma de aprendermos o
Português. Isso faz com que o aluno conheça um trabalho que o jornalismo
apresenta; não é só para o papel, mas passa por um processo de organização.
Para
finalizar, gostaríamos de afirmar que, fazer um trabalho na sala de aula que
busque distanciar-se do letramento autônomo e que se aproxime do letramento
ideológico e funcional não é utopia. Para tanto, é importante discutirmos
acerca das características e das funções de vários gêneros de textos que os
alunos têm contato, incentivando um ensino/aprendizagem intimamente ligado ao
universo social destes, estimulando-os a descobrir que as suas realidades não são
tão distintas dos “assuntos” discutidos nas aulas de Língua Portuguesa ou
de outra disciplina.
REFERÊNCIAS
DOLZ,
J. & SCHNEUWLY, B. Gêneros e progressão
em expressão oral e escrita: elementos para a reflexão sobre uma experiência
suíça (francófona). Enjeux, p. 31-49, 1996. Tradução de Roxane, H. Rojo (inédito).
HOFFNAGEL,
Judith Chambliss. Entrevista:
uma conversa controlada. IN: DIONISIO, Ângela Paiva et. alii (org). Gêneros
Textuais do Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, p. 180-193, 2002.
MARCUSCHI,
L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São
Paulo: Cortez, 2001.
_________________.
Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. IN: DIONISIO, Ângela Paiva
et. alii (org). Gêneros Textuais do Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna,
p. 19-36, 2002.
PASQUIER,
Auguste. e DOLZ, Joaquim. Um decálogo para ensinar a escrever. In: Cultura y
Educacion (2). Infância
y Aprendizaje, Madrid, p. 31-41, 1996.
SECRETARIA
DO ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa. Brasília:
MEC, 1998.