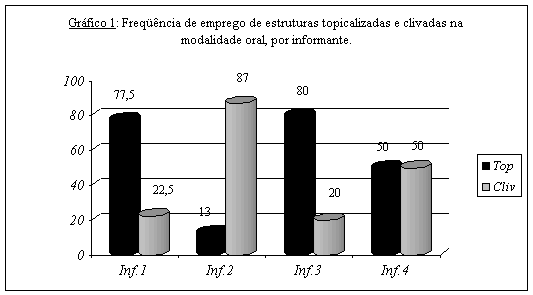
Gnerre 1985 considera que há dois níveis de discriminação lingüística: o primeiro, explícito, refere-se à exigência de domínio da Gramática Normativa, associada ao aparente reconhecimento de que
“a
difusão da educação em geral e do conhecimento da variedade lingüística de
maior prestígio em particular é um projeto altamente democrático que visa a
reduzir a distância entre grupos sociais para uma sociedade de
"oportunidades iguais" para todos. Acontece, porém, que este virtual
projeto democrático sustenta ao mesmo tempo o processo de constante redefinição
de uma norma e de um novo consenso para ela. A própria norma é constantemente
redefinida e recolocada na realidade sócio-histórica, acumulando assim ao
mesmo tempo a própria razão de ser e o consenso. Os que passam através do
processo são diferentes dos que não o conseguiram, e constituem um contingente
social de apoio aos fundamentos da discriminação com base na legitimação do
saber e da língua de que eles (formalmente) dispõem.”(p.28)
O segundo nível, mais sutil, evidencia que a visão tradicional de língua é muito estrita e privilegia aspectos referentes às estruturas lingüísticas. Além disso, caracteriza-se como uma visão oriunda da tradição escrita e, como tal, não leva em consideração aspectos como sotaque, prosódia e outras características "menores", embora desempenhem papel fundamental na comunicação face a face. Como corolário, tem-se que o menosprezo aos sinais comunicativos que ocorrem na real interação verbal face a face permite “uma discriminação que vai além do simples domínio e uso da gramática normativa”.
Assim,
para o autor
“até no caso em que alguém consegue controlar as estruturas gramaticais e o léxico da variedade lingüística padrão, ele ou ela ainda deverá passar através do teste da interação face a face, que implica a produção de uma fonologia e de uma prosódia aceitáveis, um bom controle do tempo, do ritmo, da velocidade e da organização das informações ou dos conteúdos. Além destas características estritamente relacionadas à língua, há outras, tais como as posturas do corpo, a direção do olhar, etc. Tudo isso entra, na realidade, no “julgamento” através do qual uma pessoa tem que passar, mas nada disso está implicitamente mencionado ou legislado na gramática normativa.” (p.31)
O
autor considera ainda que
Nesta perspectiva, a gramática normativa é um código incompleto, que, como tal, abre espaço para a arbitrariedade de um jogo já marcado: ganha quem de saída dispõe dos instrumentos para ganhar. Temos assim pelo menos dois níveis de discriminação lingüística: o dito ou explícito e o não dito ou implícito.” (Gnerre, 1985, p.30-31)
Esta dupla articulação de discriminação lingüística é explicada por Gramsci, no último de seus cadernos de anotações de 1935, por meio da distinção entre “gramática normativa não escrita” e “gramática normativa escrita”, considerando que a realidade lingüística nacional é constituída pela articulação destes dois tipos de gramáticas normativas. Para Gramsci, a primeira “é a expressão da sociedade civil, representa um momento de consenso espontâneo à norma lingüística dos grupos sociais hegemônicos”. Já a gramática normativa escrita “é sempre uma escolha, um endereço cultural, isto é, é sempre um ato de política cultural-nacional”.
Neste trabalho, discuto aspectos referentes à discriminação lingüística correlacionando-os a aspectos da Gramática Normativa Escrita e processos de mudança lingüística.
Muito se tem escrito acerca da importância do reconhecimento dos processos de Variação Lingüística no Ensino de Língua Materna e, portanto, este aspecto não será foco deste trabalho. Privilegiarei, sim, questões referentes à Mudança Lingüística, uma vez que, subjacente às dificuldades constantemente discutidas em relação ao ensino-aprendizagem da língua escrita, está o não reconhecimento da Mudança Lingüística e, nessa perspectiva, Gnerre considera que
“Uma
série de pequenas mudanças caracterizam as gramáticas normativas de
diferentes épocas: é assim que uma gramática de hoje estabelece uma norma que
certamente é diferente da que encontramos numa gramática do século XVII ou na
gramática de Fernão de Oliveira. Porém, tal como na religião, nos valores
morais e éticos, na norma lingüística não aparece uma crítica explícita de
fases anteriores.” (p. 27)
Na verdade, o que procurarei evidenciar é que não é necessário buscar diferenças entre a norma preconizada em gramáticas do século XVII e gramáticas de hoje. Estarei mostrando como as diferenças entre a Gramática Normativa Escrita e a norma utilizada hoje contribuem para discriminar linguisticamente as pessoas.
A questão que se apresenta para o ensino de Língua Materna refere-se ao fato de a língua padrão constituir-se em uma entidade abstrata, apresentando um aspecto dual: embora procure aproximar-se das gramáticas normativas escritas, distancia-se das normas preconizadas por estas gramáticas, porque incorpora fenômenos de variação e de mudança ainda não legitimados pela gramática normativa escrita.
Assim, faço uma releitura da concepção de Gramática Normativa não escrita e procuro concretizar aspectos desta gramática por meio da associação da mesma a fenômenos de variação e mudança lingüística. Nessa linha de raciocínio, considero que fenômenos de variação, já incorporados pela norma, devem ser considerados pelo professor. Esta postura pode contribuir para minimizar efeitos danosos que a insistência ou o foco no ensino puramente gramatical tem acarretado aos estudantes.
Antes de passar à discussão propriamente dita, devo salientar que a iniciativa não é inédita, uma vez que muitos autores têm chamado a atenção para questões relacionadas a variação lingüística e ensino. Dentre as várias abordagens, chamo a atenção para os trabalhos de Mattos e Silva (1995) e Bittencourt (1997).
Mattos e Silva desenvolve um capítulo, de forma bastante elegante e competente, para mostrar aspectos da heterogeneidade dialetal brasileira que se refletem no processo ensino-aprendizagem da língua portuguesa.
Já Bittencourt estabelece um elo mais direto entre fenômenos de mudança e ensino. A autora mostra que estruturas comuns à modalidade oral, conforme (1), que
“invadem
as redações dos nossos alunos até de terceiro grau, vêm ganhando terreno na
nossa língua desde os finais do século XIX e vencendo a concorrência com os
seus correspondentes (...), segundo nos revelam pesquisas sociolingüísticas
como as de Tarallo (1983), (1993). Se o nosso sistema lingüístico vem
tomando tal rumo, é preciso tomar consciência dele e incorporá-lo ao ensino,
ao invés de simplesmente rechaçá-lo.”[1]
(p.13)
Os exemplos em (1b), (2b) e (3b) constituem amostras de estruturas comuns à modalidade oral.
(1)
a. Eu conheci um rapaz que fala umas vinte línguas.
b. Eu conheci um rapaz que ele fala umas vinte línguas
(2)
a. Esse foi o único namorado com quem eu teria me casado.
b.
Esse foi o único namorado com quem eu teria me casado com ele.
(3)
a. Temos hoje conosco uma mãe cujo filho está sumido há anos.
b.
Temos hoje uma mãe que o filho está sumido há anos.
São muitos os casos de fenômenos lingüísticos que já estão entrando em obsolescência, mas ainda provocam “dor de cabeça” nos professores, em virtude da dificuldade de os alunos dominarem as estruturas em questão. Apresento, abaixo, uma lista de alguns dos fenômenos relatados pela literatura lingüística que estão em processo de variação e mudança lingüística.
i. se indeterminador x se apassivador.
ii. estruturas que ocorrem na periferia à esquerda da sentença como, por exemplo: estruturas topicalizadas e estruturas clivadas
iii. processos de referenciação.
iv. processos de indeterminação (nós, você, a gente).
v. colocação pronominal (preferência pela próclise).
vi. emprego do acusativo com infinitivo.
vii. sistema pronominal.
viii. sistema de concordância.
ix. emprego do objeto anafórico.
x. emprego dos clíticos.
Muitas outros fenômenos poderiam ser arrolados e discutidos. Vou me deter nos três primeiros, por razões de espaço. Em relação às ocorrências de se indeterminador x se apassivador, Nunes (1990) mostra que o português brasileiro privilegia as construções com se indeterminador (construções com discordância verbal) e que as construções com se apassivador sobrevivem na modalidade escrita culta do português brasileiro graças
“à
renitência da gramática tradicional, que se pauta pela norma européia. A
concordância em construções com se no atual estágio do Português do
Brasil reflete mais um fenômeno de monitoração da escrita (que por vezes
conduz a hipercorreções do tipo tratam-se desses assuntos) que
propriamente algo do domínio do vernáculo (cf. Labov (1972)).[2]
O autor mostra que o jornal Folha de S. Paulo, apesar de prescrever o emprego da discordância verbal em seu Manual de Redação, apresenta a seguinte recomendação em relação aos advérbios: “Deve-se evitar os advérbios qualificativos, como os de afirmação (...). Deve-se evitar em especial os advérbios originados de adjetivos.” (p. 36)
Além disso, a partir de dados analisados, o autor comprova que o texto jornalístico atual prefere, por exemplo, evidenciar indeterminação por meio da forma se + verbo transitivo + discordância verbal. Em decorrência desta análise, pode-se afirmar que a preocupação de muitos professores em ensinar exaustivamente a distinção entre alugam-se casas x aluga-se casas x precisa-se de funcionários é inócua.
Quanto às estruturas que ocorrem na periferia à esquerda da sentença, Rocha (2002) compara a ocorrência das estruturas topicalizadas e estruturas clivadas em entrevistas orais[3], concedidas a emissoras de televisão, e em entrevistas transcritas, concedidas a revistas de circulação nacional[4].
Foram considerados como tópico os NPs externos vinculados a uma categoria vazia ou a um elemento pronominal complemento no interno da sentença, NPs externos co-referentes ao sujeito da oração e adjuntos que ocorrem à margem esquerda da sentença sem serem regidos por um núcleo visível, conforme (4), (5) e (6), respectivamente.
(4)
“Até porque estas opiniõesi eu tenho colocado ei
no debate há sete anos.” (cg/jg/4)[5]
(5)
“O salário mínimoi hoje elei pode ser
reajustado pelos estados para a área privada.” (js/jg/23)
(6)
“Primeiro mandato delei, elei foi muito bem
aprovado pela população.” (ag/jg/11)
Por construções clivadas foram consideradas “um conjunto de construções-Q usadas para salientar um constituinte sintaticamente como foco sentencial. Dizemos sintaticamente porque o foco é por definição (cf. Chomsky 1971) o elemento prosodicamente saliente na sentença”, conforme Kato, Braga et alii 1996:308.
Em Português, o foco pode ser representado, sintaticamente, por uma operação de clivagem em que o constituinte é colocado entre ser e que, cuja explicitação tem-se dado por meio de duas estruturas básicas: clivadas (it-clefts) e pseudo-clivadas (wh-clefts), conforme exemplos a seguir. [6]
(7).
“Foi [isso] que aconteceu com Fernando de la Rua.” (cg/ep/40)
(8).
“O que temos de atacar é [a questão da biossegurança].”
(cg/ie/113)
Os dados evidenciam que, na modalidade oral, os informantes 1, 2 e 3 utilizam-se bastante de estruturas topicalizadas. Já o informante 2 privilegia a estrutura clivada, conforme Gráfico 1, a seguir.
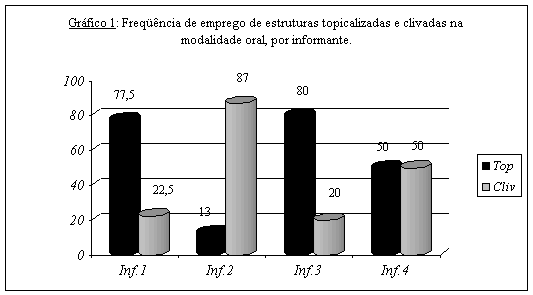
Entretanto, a transcrição das entrevistas escritas evidencia o privilégio das estruturas clivadas, conforme Gráfico 2, a seguir.
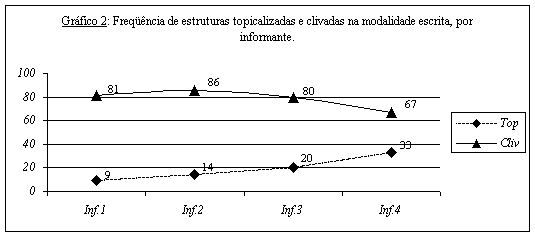
Na verdade, o que os dados parecem evidenciar é que, no processo de retextualização, as estruturas clivadas são privilegiadas em detrimento das construções topicalizadas, embora tais construções apresentem características diferentes do ponto de vista sintático e prosódico. Além disso, as estruturas topicalizadas são interpretadas, provavelmente, como sentenças SVO ou como clivadas.
Estes fatos evidenciam que estruturas como estas, já incorporadas à modalidade escrita da língua, não encontram espaço ainda na tradição gramatical e muito menos na escola.
Em relação a processos de referenciação, um estudo bastante bastante interessante é de Paredes Silva (1996). A autora mostra que uma análise estritamente formal que considere a ocorrência do pronome na relação entre orações não é suficiente para explicar o emprego de pronomes para referência de terceira pessoa.
Paredes da Silva apresenta, dentre outras, evidências apontando que condicionamentos discursivo-pragmáticos na escolha entre nomes e pronomes no discurso aplicam-se também à escrita, conforme se pode perceber pelo exemplo (4)[7], a seguir.
(4)
“E essa agência, na Civilização, significa no máximo ainda este ano, é o
que o Ênio Silveira pode prometer. Acho que você não consegue maior rapidez e
na minha opinião você deve aceitar, pois eles distribuem bem e constuma
vender. (FS 8)”[8]
Conforme se pode observar, no exemplo acima, “o pronome de terceira pessoa do plural não retoma um referente previamente expresso, o que não impede de identificarmos a quem eles se refere: aos encarregados da distribuição de livros pela editora.”
Em suas considerações finais, a autora mostra que
“parece interessante constatar-se que, no português escrito informal, mesmo de pessoas com grau de escolaridade alto, e até em escritores consagrados da literatura brasileira, o pronome de terceira pessoa também aparece em refer~encias que não podem ser recuperadas a partir das orações imediatamente precedentes. Muitas vezes o contexto necessário extrapola o período e mesmo o parágrafo, encontrando-se pistas em outro subtópico do discurso, ou mesmo no contexto discursivo-pragmático.” (p.93)
Os aspectos acima apresentados constituem evidências de que, ao ignorar aspectos de variação e mudança lingüística, já incorporados pela norma, mas ignorados pelas Gramáticas Tradicionais, a Escola está contribuindo para o processo de discriminação do aluno.
Finalizo este texto com um trecho de Gnerre que sintetiza as questões aqui discutidas:
“Se as pessoas podem ser discriminadas de forma explícita (e não encoberta) com base nas capacidades lingüísticas medidas no metro da gramática normativa e da língua padrão, poderia parecer que a difusão da educação em geral e do conhecimento da variedade lingüística de maior prestígio em particular é um projeto altamente democrático que visa a reduzir a distância entre grupos sociais para uma sociedade de “oportunidades iguais” para todos. Acontece, porém, que este virtual processo democrático sustenta ao mesmo tempo o processo de constante redefinição de uma norma e de um novo consenso para ela.”
BITTENCOURT, V. O. Variação, mudança e ensino do português. In: DELL´ISOLA, R. L. P.; MENDES, E. A. M. (Orgs.) Reflexões aobre a Língua Portuguesa – Ensino e Pesquisa. Campinas, SP: Pontes, 1997.
BRAGA, M. L. Fala, escrita e estratégias de focalização. In: CAMPOS, O. G. L. A. de S. (Org.) Descrição do Português: abordagens funcionalistas. SP, UNESP-Campus de Araraquara: Curso de Pós-Graduação em Lingüística e Língua Portuguesa, 1999.
CALLOU,
D; MORAES, J.; LEITE, Y.; KATO, M. A.; OLIVEIRA, C.T.; COSTA, H.; ORSINI, M.;
RODRIGUES, V. Topicalização e Deslocamento à Esquerda: Sintaxe e Prosódia.
In CASTILHO, A. T. de (Org.) Gramática do Português Falado, vol. III: As
Abordagens. Campinas: Ed. da UNICAMP/FAPESP, p. 315-358, 1993.
DUARTE,
M.L. A Construção de Topicalização na Gramática do Português: regência,
Ligação e Condições sobre movimento. Universidade de Lisboa: Tese de
Doutoramento, 1982.
GNERRE,
M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
KATO,
M A . Tópicos como Alçamento de Predicados Secundários. Cadernos de
Estudos Lingüísticos, 34:67-76, 1998
KATO,
M. A.; BRAGA, M. L.; CORRÊA, V.R.; ROSSI, M. A. L.; SIKANSKI, N. As construções-Q
no Português Brasileiro Falado: perguntas, clivadas e relativas. In:
Koch, I. G. V. (Org.) Gramática do
Português Falado, vol. VI: Desenvolvimentos.
Campinas, Ed. da UNICAMP/FAPESP, p. 303-370, 1996.
KATO,
M. A. & RAPOSO, E. European and Brazilian word order: questions, focus and
topic constructions. In:
Parodi, C.C., Quicoli e M. L. Zubizarreta (orgs.) Aspects
of Romance Linguistics,
Washington: Georgetown U. Press, 1996. Apresentado
no XXIV LSRL, Los Angeles, 1994: 267-277.
LEITE,
Y. F.; CALLOU, D,; MORAES, J.; KATO, M. A.; ORSINI, M.; RODRIGUES, V. e COSTA,
E. . Tópicos e adjuntos. In: CASTILHO, A. T. de & BASÍLIO, M.
(Orgs.) Gramática do Português falado- vol. IV: Estudos Descritivos.
Campinas: Editora da Unicamp/FAPESP, p. 321-340, 1996.
RAPOSO,
Eduardo Paiva. Towards a Unification of Topic Constructions. Mimeo,
1996
MATTOS
E SILVA, R. V. Contradições no ensino de português. São Paulo:
Contexto, 1995.
NUNES,
J. M. Se apassivador e se indeterminador: o Percurso Diacrônico
no Português Brasileiro. Cadernos de Estudos Lingüísticos, 20, 1991.
PAREDES
SILVA, V. L. Quando escrita e fala se aproximam: pronomes de terceira pessoa em
cartas pessoais. In: MACEDO, A. T.; RONCARATI, C.; MOLLICA, M. C. (Orgs.) Variação
e discurso. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
ROCHA,
M. A. F. Estruturas
topicalizadas e clivadas na língua oral e escrita.. (no
prelo)
TARALLO, F. Relativization
strategies in Brazilian Portuguese. Pennsylvania: University of
Pennsylvania, 1983. Tese de Doutorado.
____________.
Diagnosticando uma gramática brasileira: o português d´aquém e d´além mar
ao final do século XIX. In: ROBERTS, I.; KATO, M. A. (Orgs.) Português
brasileiro: uma viagem diacrônica. Campinas:
Editora da Unicamp, 1993.
ZUBIZARRETA, M. L. Prosody, Focus and Word Order. Cambridge, Mas.: MIT Press. 1998.

[1] Grifo adicionado.
[2] p. 36
[3] O corpus de língua oral foi constituído por entrevistas ao Jornal da Globo, Jornal Nacional, Bom dia Brasil e Globo Rural (perfazendo um total de 3h de entrevista) e o corpus de língua escrita, por entrevistas às revistas Época e Istoé.
[4] Foram utilizadas entrevistas da revista Época (de 01/7/2002, 8/7/2002, 22/7/2002 e 12/8/2002) e da revista Istoé (11/9/2002, 18/9/2002, 25/9/2002 e 2/10/2002).
[5] Os exemplos obedecem à seguinte convenção: iniciais do nome dos informantes, veículo ao qual a entrevista foi concedida e número da amostra.
[6] Para maiores detalhes a respeito das variadas possibilidades de ocorrência de estruturas topicalizadas e das estruturas clivadas, remeto à leitura, dentre outros, dos trabalhos de Braga 1999, Kato 1998, Zubizarreta 1998, Kato, Braga et alii 1996, Raposo 1996, Kato e Raposo 1996, Leite et alii 1996, Callou et alii 1993 e Duarte 1992.
[7] Conforme a autora, o exemplo em (4) foi retirado de uma carta de Fernando Sabino a Clarice Lispector.
[8] Paredes Silva (1996, p.92), ex. (12).